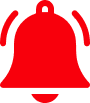Moradores de Bairros Populares no Porto e em Braga - condições objetivas de vida e estratégias de sobrevivência e resistência passiva foi lançado em agosto e resulta de reflexões em torno do projeto “Modos de Vida e Formas de Habitar: “ilhas” e bairros populares no Porto e em Braga”, desenvolvido entre setembro de 2016 e maio de 2020.
Resulta também do percurso académico do seu autor sobre a produção de consentimento e o modo como esta inibe a mobilização popular - em meio rural ou urbano. A obra dá a conhecer alguns dos resultados dessa investigação e reflexão, através da caracterização dos moradores, das condições de habitação em que se inserem e dos sistemas de organização coletiva com que estão familiarizados e a que pertencem.
Manuel Carlos Silva é investigador e professor de Sociologia na Universidade do Minho, tendo produzido investigaçõe sobre desigualdade e exclusão social e o desenvolvimento desigual na região do Minho. Em entrevista ao Esquerda.net, fala sobre possibilidades de transformação que a investigação sobre habitação abre.
Muitos dos territórios que estudaram foram palco de ocupações no Processo Revolucionário pós-25 de abril ou de mobilização no âmbito do SAAL. Não era expectável que estes territórios fossem espaços privilegiados de mobilização? Por que se perdeu essa experiência?
O contexto sócio-político era bem diferente. Para além de situações de maior carência e privação extremas decorrentes da política de abandono da ditadura, foi real e presente a normativa vinda do governo no quadro do SAAL que, além de incentivar, proporcionou financiamento e apoio a projetos surgidos ‘a partir de baixo’. O contexto social e político era bastante favorável sobretudo até ao 25 de Novembro de 1975, mas, logo em 1976, o poder central deixou de financiar e apoiar tecnicamente os projetos do SAAL, deixando essa tarefa à autonomia e/ou discricionariedade das Câmaras Municipais. As Câmaras, na sua grande maioria, abandonaram ou deixaram cair tais projetos de reabilitação. Ou seja, no pós-25 de Abril estavam presentes não só condições objetivas, como organizativas e institucionais, o que não foi o caso posteriormente na maior parte dos sucessivos mandatos camarários ao longo de décadas.
Salvo algumas melhorias resultantes da implementação de conquistas do Estado Social, mantiveram-se condições objetivas de desemprego e precariedade, baixa escolaridade, habitação precária e baixos rendimentos. Mas foi sobretudo a ausência das condições organizativas, de liderança e mobilização. Os moradores foram-se sentindo cada vez mais impotentes para contrariar as lógicas dos poderes instalados e eventuais lobbies de interesses imobiliários em torno de espaços urbanos. Sem capacidade reivindicativa coletiva, apenas procuravam melhorar a sua situação pela via individual ou familiar e, mais amiúde, lutar pela sobrevivência e a segurança mínima, de modo a não piorar a sua situação.
Um dos dados relevantes, e que mostra que nestes territórios a igualdade que a democracia promete está ainda mais longe, é a taxa de pessoas que não sabem ler nem escrever. Ou seja, pessoas à margem do que seria uma das grandes conquistas de Abril. Num país tão pobre e que evoluiu tanto nesse âmbito, como se justifica que não tenha existido uma intervenção mais estrutural nestes territórios maioritariamente de habitação pública?
A democracia formal representativa, não rompendo com a estrutura de desigualdades sociais de partida em termos de classe, étnico-raciais e de género, não permite alcançar a igualdade nomeadamente em termos de educação e tão pouco o desenvolvimento das diversas capacidades das pessoas, nomeadamente dos grupos mais desprovidos de recursos. O que salta à vista neste inquérito é que nestes bairros populares os índices de analfabetismo são mais elevados que a média nacional de 2%, ou seja, 17% não concluíram o 1.º ciclo; a escolaridade é de resto muito baixa e o acesso ao ensino médio e sobretudo superior residual. Não só falhou o Estado e suas dependências institucionais em torno da educação, como as próprias Câmaras que tão pouco fizeram uma aproximação e acompanhamento da realidade, de modo a superar défices e maiores assimetrias que as médias do país, em que inúmeras crianças tiveram de ir trabalhar logo após o ensino básico.
Foram analisados bairros no Porto e em Braga e algumas ilhas do Porto. Existem diferenças relevantes de mobilização e de perceção sobre a situação de vida conforme o território e a tipologia habitacional? (Porto e Braga, bairro, ilha, habitação pública ou privada?)
Certamente há algumas diferenças de mobilização e percepção, tal como verificamos com algum sucesso nos casos de Tapada e da Bela Vista no Porto. São todavia casos minoritários em relação à maioria das ilhas e bairros populares, nos quais, embora revelem um historial de queixa e desabafo, não há estratégia de reivindicação e ação coletiva junto dos poderes estabelecidos.
No caso específico dos moradores das ilhas e bairros populares no Porto e em Braga, originários dos campos envolventes do Minho, de Trás-os Montes e do Douro desde finais do século XIX e sobretudo desde os anos 1950 a 1970-80, tinham origem camponesa mesmo já sendo operários ou, inclusive e maioritariamente, tendo um passado de jornaleiros e criados/as, aspiravam a ser caseiros e, se possível, ter algo seu, em especial a casa. Este objetivo teria sido conseguido por parte considerável de emigrantes mas não tanto por estas sucessivas migrações internas rurais em direção ao Porto e a Braga (e sobretudo Lisboa), cujos baixíssimos salários não lhes permitiam poupanças para compra de casa, destinando os exíguos aforros para melhorar as suas casas e ter os equipamentos mínimos nas ilhas e sobretudo nos ditos bairros sociais geridos pelas entidades camarárias, respetivamente a Domus Social e a BragaHabit.
Em todo o caso, há diferenças entre bairros: por exemplo, enquanto no bairro das Andorinhas em Braga grande parte dos moradores são proprietários das suas casas primeiro alugadas e depois adquiridas, noutros bairros etnicamente mistos (ciganos e não ciganos) como o das Enguardas ou o de Santa Tecla ou etnicamente segregados como o do Picoto (apenas com ciganos/as), os moradores na sua maioria, conhecendo alguns conflitos internos e sobretudo com entidades externas, são ‘arrendatários’ da BragaHabit.
Na amostra, a maior parte dos moradores vive em habitação pública com rendas definidas de acordo com os rendimentos, mas existem ainda alguns arrendatários do mercado privado – menos protegidos - e muito poucos proprietários. É possível inferir de que forma é percepcionada a ideia da “sociedade de pequenos proprietários” nas camadas populares, se é desmobilizadora de alguma forma e se existe uma leitura sobre essa opção política do passado?
A maior parte dos moradores vive em habitação pública com rendas definidas de acordo com os seus rendimentos, tendo, na maior parte dos casos, rendas baixas por comparação com os preços do mercado. Importa neste quadro chamar a atenção que os arrendamentos feitos quer pela Domus Social no Porto, quer pela Bragahabit em Braga, são contratos sob regime de arrendamento apoiado de caráter dito transitório, enquanto estejam em situação de vulnerabilidade social e habitacional. Os moradores não têm um estatuto de inquilinos habituais, sendo mantidos dependentes e na insegurança. Vivem de acordo com certas regras estabelecidas a nível camarário (por exemplo, não podem convidar terceiros às suas casas), doutro modo podem ser expulsos. E tal não será por acaso, pois são estes constrangimentos que contribuem para diminuir a capacidade reivindicativa. Isto sim é desmobilizador para a ação coletiva e não que outros sejam pequenos proprietários das suas casas.
Quer no Porto, quer em Braga, os casos de proprietários de casa própria são minoritários ou mesmo residuais. A maior parte das melhorias nestas casas próprias ou arrendadas nos bairros populares ocorreram não por apoios públicos mas por parcas poupanças e entreajuda a nível familiar. Daí o gosto afetivo pelo bairro. A crítica e combate mais relevante a fazer é aos poderes públicos que não investiram em habitação pública justamente para as famílias mais desprovidas e pobres nos ditos bairros sociais e, em particular, de pessoas sem abrigo. Os sucessivos governos promoveram, sobretudo entre 1987 e 2011, uma política de habitação que consistiu em que o Estado, para além do Programa de Realojamento (PER) nos anos 90, investisse 9.000 milhões de euros para subsidiar ou conceder juros bonificados em benefício do mercado imobiliário e do sistema financeiro.
Não é muito explorado no livro mas existe uma alusão à expulsão e marginalização de comunidades ciganas que tinhas estudado anteriormente em Braga. O que explica que tantos anos depois ainda não se tenha resolvido?
Sim, é feita referência a algumas situações de expulsão, marginalização e, inclusive, de desmantelamento de bairros, assim como de deslocalização da comunidade cigana da Ponte de S. João no centro de Braga nos anos de 1980. A análise das situações de discriminação das comunidades ciganas no distrito de Braga, nomeadamente em Barcelos, Braga e Guimarães, embora tratadas de modo diferenciado pelos respetivos poderes municipais, foi feita no livro Sina Social Cigana, em que, para além do tratamento quantitativo e qualitativo dos dados, foi feita uma abordagem histórica da perseguição desta minoria étnica, nomeadamente na Europa e em Portugal.
Na cidade de Braga, se a Câmara então sob o poder camarário do PS não resolveu o problema da segregação sócio-espacial deste grupo étnico-racial, tão pouco esta situação foi resolvida sob governo do PSD/CDS. Foi avançada a hipótese provável de demolição do bairro num futuro próximo e realojamento disperso das restantes poucas famílias ciganas. É apontada a possibilidade de um projeto de parque mas não será de excluir outras finalidades, incluindo, dado tratar-se de um espaço contíguo à cidade e com bela ‘paisagem’, ser objeto de eventuais estratégias de ‘revalorização’ do espaço e de gentrificação.
Habitação
Penajoia: em carta aberta, moradores pedem que não se criminalizem as vítimas
Diz-se com frequência que quem tem acesso aos 2% de habitação pública se encontra mais protegido do que quem está no mercado de arrendamento privado. Vemos no entanto que apenas pessoas num espectro de pobreza têm acesso à habitação pública. Essa relativa estabilidade, cruzada com o consentimento versus o oposto, poderá levar a diferenças significativas de mobilização nas classes mais baixas?
Há uma larga camada de milhares de pessoas que necessitam e não acedem à habitação pública. Por outro lado, atendendo às precárias condições de habitação e habitat por parte de moradores de bastantes ilhas e bairros populares, não é possível sustentar que haja estabilidade e proteção no que respeita a habitação. É certo que, no atual contexto especulativo e predatório, há no mercado de compra ou arrendamento, sobretudo a partir da liberalização das rendas e facilidade de despejos com a chamada Lei Cristas de 2012, cada vez mais famílias em situações de inacessibilidade a casa decente por incomportáveis preços de compra e/ou arrendamento de casa. Isso implica gizar estratégias de luta contra tais processos especulativos e exigir controlo de rendas, disponibilização de fogos devolutos públicos e privados.
No teu entender, de que forma as manifestações que têm vindo a existir têm dialogado com essa possibilidade?
Há vários substratos sociais disponíveis para aderir a movimentos sociais urbanos de reivindicação de ‘casas para viver’ acessíveis. Porém, as pessoas que têm acesso a habitação social não têm garantida a fruição dessa habitação pública, porque não possui os direitos de um contrato como inquilino habitual. Por isso, as pessoas inibem-se de reivindicar direitos, porque receiam retaliações ou negação no acesso a casa.
Importa ter presente que não há uma única causa, mas várias que explicam o ‘consentimento’. O medo, como aliás a raiva ou o ressentimento, são ingredientes psicológicos que estão presentes em muitos processos sociais e políticos, não são a causa explicativa mas mais o efeito de situações de dependência, pobreza, precariedade e até miséria. Tais situações, que revelam a discrepância entre as condições objetivas de vida e a não correspondente ação coletiva de protesto e reivindicação, em vez de dar lugar à contestação ou revolta ou simples votações à esquerda, como o esperariam partidos de esquerda, paralisam a ação coletiva de modo a não sofrerem retaliação dos poderes circundantes nem perder o pouco que têm, transmitindo na esfera informal ou expressando, quando muito no silêncio da cabine de votação, o seu ressentimento ou protesto.
Porém, para tal situação defensiva e de contenção, de ‘consentimento’ e não protesto ou revolta convergem e contribuem outros fatores como as formas de alienação ou ideologias de conformação com o statu quo como a meritocracia, grande parte de mensageiros eclesiásticos e as próprias crenças religiosas como lenitivos para o sofrimento ou mensagens veiculadas pelos media. Por isso, sendo as situações de precariedade e dependência, geradoras de sentimentos de ansiedade e medo e inclusive de uma aparente ‘aquiescência’ ou ‘consentimento’, as necessárias estratégias de mobilização terão de contornar e superar o isolamento atomicista ou eventual divisionismo nos bairros através de criação de órgãos de representação coletiva como associações de moradores, lideradas por pessoas menos vulneráveis que estejam em condições de afrontar os poderes instituídos, agregando, abrangendo e articulando não só reivindicações de moradores de habitação pública como outras específicas de moradores vítimas da especulação imobiliária.