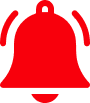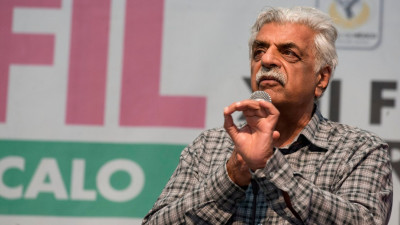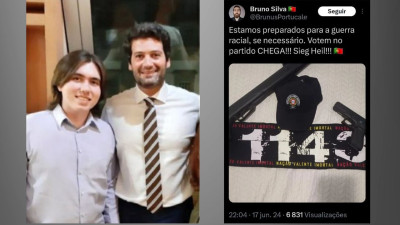É possível admitir que o embrião do processo de formação das Forças Armadas se encontre na Roma antiga, tendo em conta a ocorrência do desenvolvimento de um sistema militar que foi fundamental para a expansão e manutenção de seu vasto império onde a cidadania possuía uma ligação com o serviço castrense por meio da lealdade e do dever em relação a ela. Também se revelou como um marco importante na evolução das instituições bélicas pelo estabelecimento de práticas e estruturas que influenciaram seu avanço nas civilizações posteriores.
No entanto, os estudiosos do assunto tendem assumir a posição de que elas começaram realmente a se constituir na modernidade junto ao surgimento dos Estados nacionais durante os séculos dezoito e dezanove em um cenário dotado de revoluções, guerras e movimentos de independência, refletindo a ascensão do nacionalismo e da pugna pela autodeterminação. No século dezoito emergiram os Estados Unidos da América do Norte e a República Francesa decorrente da queda da monarquia. No século dezanove, dentre outros, podem ser mencionadas a Alemanha consequente de um movimento de unificação e a Itália resultante da integração de diversas regiões.
Apareceram então ao lado dos recentes Estados nacionais com a missão prioritária de defendê-los das ameaças advindas do exterior. Com efeito, aqueles que as instituíram passaram a contar com um poderoso aparato de defesa contra inimigos externos, ostentando uma posição de vantagem em relação aos não instituidores. Portanto, delegaram a estas forças a tarefa de resguardar o país contra possíveis cominações advindas do estrangeiro, encaminhando às mesmas os recursos necessários ao exercício de um desempenho eficaz.
Os inventores das Forças Armadas, de maneira espontânea e não refletida, se orientaram pelos princípios de identidade e da não contradição da lógica formal, cujo resultado foi o aparecimento do personagem militar distinto do figurante civil. Enclausurados em quartéis distanciados do perímetro urbano, os militares criaram indumentárias específicas, patentes, carreiras, soldos, gestos de saudação, escolas, vilas residenciais, códigos de honra, estilos de administração, assistência médica, estruturas de justiça e sistemas previdenciários próprios.
Após a sua concepção e estabelecimento, os civis tomaram consciência de que este poderoso escudo nacional poderia se voltar contra a própria sociedade democrática que o abriga. Por conseguinte, buscaram alternativas para minimizar e barrar tal possibilidade. Criaram o Ministério da Defesa chefiado por um paisano, estabeleceram a previsão constitucional da subordinação das Forças armadas ao poder civil, instituíram a supervisão delas por meio de comissões parlamentares. Na área da formação introduziram aulas de direitos humanos, cursos de ética militar, debates em torno de questões relacionadas à diversidade e inclusão, visitas ao parlamento, dentre várias outras medidas.
Concretizaram também um acordo com os fardados, o qual fixava que eles deveriam desenvolver um alto nível de profissionalismo, reconhecer os limites de sua competência ocupacional, subordinar-se aos líderes políticos civis que tomam decisões sobre política externa e militar e impedir ou minimizar a intervenção castrense na política. Por sua vez os civis deveriam conceder autonomia profissional aos fardados, aceitar e legitimar a competência ocupacional deles e não permitir ou incentivar a intervenção política nas Forças Armadas. Embora tenha se mostrado como um acordo legítimo, capaz de pacificar as preocupações dos paisanos, ele contribuiu de modo taxativo para isolar mais ainda os servidores de uniforme no interior da caserna e consolidar peremptoriamente a figura do militar como um ente distinto do civil.
Ilhados nos quartéis e imersos numa rotina diária internalizaram em suas subjetividades uma concepção funcionalista de sociedade onde cada um desempenha em papel específico, as cisões devem ser evitadas, minimizadas e eliminadas e a ordem do conjunto necessita ser mantida. Introjetaram também uma visão de mundo de cunho determinista que é centrada nos princípios de causa efeito e previsibilidade dos acontecimentos. Assimilaram ainda a ética consequencialista, a qual se assenta no pressuposto de que os juízos e as decisões precisam ser baseados nos possíveis resultados que possam vir a aparecer. Outrossim, pela natureza da ocupação exercida, incorporaram a ideia de que em determinadas circunstâncias, segundo discernimentos próprios, o emprego da violência e do autoritarismo se mostram adequados para resolver conflitos.
Não é preciso implementar esforços intelectuais para perceber que este perfil de pessoa se revela dissonante ao regime democrático. O funcionalismo respalda uma organização social conservadora benéfica aos setores avantajados, não vê com bons olhos o empenho dos movimentos sociais favoráveis aos grupos desprivilegiados. A cosmovisão determinista já foi superada pois as conjunturas sociais se revelam demasiadamente complexas devido ao elevado volume de fatores intervenientes, quantidade de agentes envolvidos, número expressivo de informações, inclusive as falsas e dinamismo acelerado. O consequencialismo desconsidera a imprevisibilidade das consequências, ignora os deveres de uns para com os outros, não leva em conta a produção de injustiças e subestima os direitos individuais. Por sua vez, a violência e o autoritarismo não cabem na democracia que se baseia no diálogo, na negociação, nos acordos, na busca do consenso e no voto da maioria.
O pacto com os fardados, particularmente os aspectos essenciais da submissão aos civis e do afastamento da política não se concretizaram conforme o almejado. Diversos comportamentos são elucidativos. Eles comparecem periodicamente às urnas para escolherem os representantes do povo; milhares deles já se inscreveram como candidatos; muitos apoiam abertamente candidaturas e partidos; reações individuais e grupais de inconformismo com governantes aconteceram diversas vezes; tomaram algumas decisões sem consultar dirigentes paisanos ou contrariaram as posições assumidas por eles; apoiaram governantes de plantão; em diversas reuniões com lideranças civis foram capazes de firmar suas concepções; exercitaram sobejamente o poder moderador; aplicaram muitas dezenas de golpes de Estado tradicionais bem como efetuaram inúmeros golpes de Estado pós-modernos. Supõe-se, portanto, que aproveitaram o enclausuramento na caserna para conspirar contra a democracia.
Como pode ser visto o modelo de intercâmbio civil militar baseado no isolamento mostra-se bastante favorável às ações ameaçadoras da democracia. E há muitas pessoas, em vários recantos do mundo, inclusive estudiosos do assunto, que ainda continuam fazendo a defesa dele. Assim sendo, o mesmo precisa ser substituído pelo paradigma centrado na integração social dos fardados por meio do estabelecimento de conexões e interações com diferentes segmentos da população. Os servidores de uniforme devem ser vistos como indivíduos que desempenham uma profissão específica semelhante às demais exercitadas pelos paisanos. A identidade deles tem que ser compatível com os valores democráticos e com a cultura da sociedade. Portanto, necessita ser evitada a formação de uma subcultura castrense singular e eremítica. Essa integração ajuda muito a barrar qualquer tendência à militarização e os induzem a agir de acordo com os interesses e valores coletivos.
Note-se que o desenrolar da história está se mostrando bastante favorável a este paradigma alternativo. Com efeito, desde há muito tempo o fenómeno da civilinização se encontra avançando de modo rápido e irrefreável. Constata-se, portanto, que devido ao acelerado avanço tecnológico, nas sociedades norteadas pelo regime democrático a presença de civis nas organizações militares tem sido crescente, bem como tem sido progressivo nelas o uso de concepções civis. Os exemplos que se seguem ilustram e comprovam a presença marcante desse fenómeno, o qual, segundo declarações dos servidores de uniforme, tem impactado o regime disciplinar e a coesão da tropa.
O tradicional e longevo modo permanente de contratação realizado através de concursos se encontra ao lado da forma temporária de empregar, a qual vale para situações de emergência, missões internacionais, operações de combate e outras funções especializadas. Muitos países a utilizam, tais como Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil ela já ultrapassou a casa dos cinquenta por cento das admissões. Dois fatores favorecem sobremaneira seu uso, quais sejam, o rápido ajuste dos efetivos de acordo com as necessidades operacionais e a diminuição do investimento financeiro.
A terceirização de serviços já tem bastante idade, pois começou em fins do século passado. Os primeiros a serem contratados foram aqueles que não envolviam diretamente o combate, tais como transporte, armazenamento e distribuição de suprimentos, manutenção de equipamentos e gerenciamento de refeitórios. Posteriormente abarcou a logística, a segurança de instalações, o treinamento de pessoal e a tecnologia da informação. Ela proporcionou a redução de custos e o aumento da eficiência da tropa, porém levantou questões sobre o controle e a responsabilidade das operações militares.
Recursos administrativos criados por civis estão sendo postos em prática nos estabelecimentos bélicos, permitindo a melhora da eficácia operacional e a adaptabilidade das forças armadas frente aos desafios das constantes transformações, dentre os quais podem ser citados os que se seguem. Gestão de Projetos na área de sistemas de armamento. Gestão da Qualidade Total no setor de prestação de serviços. Gestão de Recursos Humanos nos ramos da avaliação do desempenho e da motivação para o trabalho. Gestão de Mudanças no campo da implementação de reformas e adoção de novas tecnologias.
Demandas da sociedade e decisões políticas de governo induziram os militares a adotarem o voluntariado no recrutamento de soldados. Um dos primeiros países a utilizá-lo e a influenciar muitos outros a acatá-lo foram os Estados Unidos, e diversos fatores contribuíram para seu acolhimento. Sem dúvida, o mais importante deles foi a Guerra do Vietname que fortaleceu a ideia popular do alistamento obrigatório como injusto e discriminatório tendo em conta a maioritária convocação de jovens pobres e negros em relação aos filhos de famílias mais abastadas. Protestos massivos ocorreram em universidades e centros urbanos. Os movimentos dos direitos civis e do pacifismo criaram um clima hostil à convocação forçada e a defesa da liberdade individual e do direito de escolher não participar de guerras ganhou força. O presidente Nixon se comprometeu com sua eliminação e uma comissão de estudos por ele criada concluiu como possível e desejável a transição para um exército profissional e voluntário.
A integração das mulheres nas fileiras castrenses deveu-se aos movimentos feministas que ao longo do século vinte começaram a questionar os papéis tradicionais de género e a reivindicar direitos iguais inclusive o de participação na defesa do país. Em várias regiões do mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, as constituições passaram a proibir a discriminação por género, o que abriu caminho para o ingresso delas nas carreiras militares. Organizações de direitos humanos e organismos internacionais passaram a cobrar igualdade de oportunidades nas Forças Armadas. A entrada das mulheres foi capaz de fortalecer, a partir de fins do século passado e início deste, o movimento de inclusão social, que abriu as postas dos quartéis para os integrantes de grupos da diversidade sexual.
O fim de guerras disponibilizou combatentes que retornaram à vida civil, os quais foram chamados por empresários adeptos do empreendedorismo neoliberal para a constituição de exércitos privados. Eles se encontram operando em vários recantos do planeta ao lado ou contra Forças Armadas nacionais. Dentre outros podem ser mencionados o Grupo Wagner atuante na Ucrânia, Síria e República Centro Africana; o Academi, parceiro dos Estados Unidos e presente no Iraque e o Triple Canopy movente no oriente médio e no continente africano. Outrossim, milícias civis armadas de origem étnica, religiosa ou política agem de modo paralelo ou em apoio às forças governamentais em algumas regiões tais como a Mai-Mai na República Democrática do Congo e a Anti-Balaka na República Centro Africana.
Uma das expressões mais marcantes do processo de civilinização diz respeito à emergência do cidadão de uniforme europeu. Tal emergência, baseada na concepção de que os militares não são apenas soldados defensores do Estado, mas também cidadãos ativos da sociedade se deveu a alguns fatores. O crescimento do nacionalismo gerador da ideia da identidade nacional associada ao serviço militar; as reformas dos estabelecimentos castrenses fixadora da crença de que os fardados devem ter os mesmos direitos e deveres que os civis; as duas guerras mundiais geradoras dos sentimentos de camaradagem e de unidade nacional porquanto pessoas de diversas origens e classes sociais foram chamadas ao alistamento; o próprio serviço militar criador de uma ligação direta entre a vida militar e a vida civil. Este personagem se tornou possuidor das mesmas prerrogativas dos civis, inclusive a liberdade de expressão, o direito de associação e de sindicalização e a regalia para entrar greve que até o momento não foi regularizada pela comunidade europeia.
Embora o processo de civilinização se revele fundamental para a preservação da democracia, tendo em conta que ele ajuda muito na prevenção do desferimento de possíveis ameaças a ela por parte dos fardados, tende a ser claro e oportuno aproveitar esse incontível e apressado movimento para aprofundar e fortalecer a integração deles no âmbito da sociedade por meio de outras atividades.
Oficialmente, muitas Forças Armadas realizam ações humanitárias, as quais tem o poder de reforçar os vínculos entre fardados e paisanos e possibilitar o ganho de confiança da população. Seguem-se alguns exemplos dessas ações ao redor do planeta. As dos Estados unidos realizam missões de ajuda em desastres naturais e combate de epidemias, principalmente no exterior. As francesas atuam no setor da segurança em Mali e Niger. As canadenses dão apoio em desastres naturais no Haiti e no Nepal. As brasileiras agem contra secas, pandemias e enchentes no interior do país. As italianas fazem o resgate de imigrantes e refugiados e as portuguesas investem em treinamentos conjuntos de militares e civis visando buscar maior efetividade em contextos de crise. Mencione-se ainda os capacetes azuis, a força multinacional da ONU, que executa operações de paz em vários locais do mundo.
Outras atividades sociais praticadas também são muito relevantes porque estabelecem liames com a coletividade, mostrando que estão comprometidas com o bem estar e a segurança da nação. No Brasil oferecem programas esportivos a jovens em situação de vulnerabilidade, levam conhecimento técnico, saúde e cultura a comunidades remotas através do Projeto Rondon, fazem campanhas de vacinação e entrega de alimentos, constroem e recuperam estradas e pontes, realizam missões de saúde em áreas indígenas e ribeirinhas. Na Colômbia concedem apoio ao desenvolvimento rural, organizam cursos de capacitação profissional e efetivam programas de desmobilização e reintegração de ex-guerrilheiros. Na Índia efetuam ações médicas na área rural e implementam campanhas de doação de sangue. No México constroem habitações para vítimas da pobreza, entregam alimentos e apoiam jornadas de vacinação.
Esses empreendimentos movimentados pelos fardados estão vinculados ao desempenho profissional, realizam-se durante o expediente e normalmente são respaldados por legislação pertinente. Outras iniciativas semelhantes que devem receber sustentação e encorajamento são praticadas por eles fora do horário de trabalho, isto é, nos momentos de folga, as quais carecem ser vistas como exercício da cidadania ativa ou como engajamento cívico. Tais iniciativas revelam comprometimento com o bem estar comunitário, demonstram responsabilidade social, fortalecem os sentimentos de respeito e confiança mútua e reforçam a legitimidade do regime democrático.
Algumas delas que se enquadram na categoria do voluntariado precisam ser mencionadas pois são muito ilustrativas. Nos Estados Unidos os aquartelados se filiam ao Civil-Military Engagement, participam de conselhos consultivos, atuam como mesários em eleições, prestam assistência médica. No Brasil se envolvem em atividades de escotismo e fazem campanhas de arrecadação. Nas Filipinas trabalham em obras públicas e concretizam programas educativos. Na Índia promovem jornadas de saúde. Na Tailândia atuam na construção civil e nos serviços de saneamento.
Embora o voluntariado se revele como um dos mais importantes atos da cidadania ativa, existem outros que podem e devem ser implementados para que ocorra uma maior aproximação da conduta civil e um fomento ao dinamismo e vigor da democracia. Sem esgotar a lista podem ser mencionados: apoiar candidatos comprometidos com causas de relevo, enviar cartas ou petições a representantes políticos, acompanhar audiências públicas, atuar em grupos de estudo sobre temas diversos, participar de protestos, marchas e demais manifestações pacíficas, criar conteúdo informativo em redes sociais sobre temas sociais e políticos, assinar e divulgar abaixo assinados, integrar movimentos por direitos humanos, igualdade de gênero e meio ambiente, mobilizar pessoas para resolver problemas comunitários, denunciar fatos suspeitos ou irregulares, promover jornadas contra o tabagismo e o alcoolismo, envolver-se em campanhas destinadas à conservação e incremento do patrimônio público.
Derradeiramente vale sugerir como arremate das propostas exibidas a inclusão das forças armadas no ambicioso e prestigiado projeto Cidade Educadora criado em Barcelona e que se encontra alastrado em muitos países do mundo, inclusive em dezenas de municípios brasileiros. Este projeto assenta-se no pressuposto de que todas as cidades possuem uma elevada capacidade educativa que deve ser utilizada em prol da qualidade de vida da população. Seus múltiplos espaços, atores e entidades sociais são vistos como agentes pedagógicos capazes de apoiar o desenvolvimento de todo o potencial humano. Assim sendo, instalações da caserna podem servir como local de estágio a alunos do ensino profissional; músicos das bandas castrenses podem promover o aprendizado de instrumentos musicais a civis; instrutores, quadras e pistas de atletismo podem ser disponibilizados a moradores locais; visitas de paisanos para conhecer o funcionamento dos quartéis podem ser agendadas; palestras ministradas por militares sobre a atuação das forças armadas podem ser direcionadas a civis. Indubitavelmente, tal proposta tende a ser capaz de contribuir para o desvio das possíveis dificuldades de relacionamento entre civis e fardados e solidificar o gradativo movimento de aproximação entre eles.
Antônio Carlos Will Ludwig é Professor Aposentado da Academia da Força Aérea, pós-doutorado em educação pela USP e autor de Democracia e Ensino Militar (Cortez) e A Reforma do Ensino Médio e a Formação Para a Cidadania (Pontes)