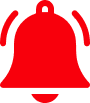Gérald Darmanin, ministro da Justiça de França, anunciou a construção de uma prisão de “alta segurança” na Guiana Francesa, despertando os fantasmas do passado colonial e os dos degredados que morreram neste território ultramarino.
Este mega-projeto prisional, com um custo estimado em 400 milhões de euros, é apresentado pelo ministro da Justiça como uma solução para “pôr fora de ação os perfis mais perigosos do tráfico de droga”.
O anúncio desta decisão e a sua mediatização revelam a persistência de um imaginário de “inferno verde” amazónico muito presente na história colonial francesa. Na sequência dos anúncios do ministro, a Collectivité territoriale de Guyane (CTG) denunciou o projeto:
“A Guiana não tem vocação para acolher os criminosos e os terroristas da França hexagonal [numa] reencenação da colónia penal de muito mau gosto”.
O “inferno verde” amazónico em pano de fundo
Lembre-se que a Amazónia é uma “invenção ocidental” que ativa um imaginário poderoso. O seu nome provém da lenda das ferozes amazonas, um mito já presente na Grécia antiga.
Posteriormente, o mito de El Dorado marcou os espíritos durante séculos, depois de os rumores de uma cidade de ouro terem chegado aos ouvidos dos conquistadores espanhóis por volta de 1530. O célebre explorador Sir Walter Raleigh publicou a obra El Dorado (1596), que difundiu amplamente a fantasia de uma Amazónia repleta de riquezas, nomeadamente o planalto da Guiana, e que influenciará os investidores franceses.
O imaginário colonial do “inferno verde” exprimiu em seguida uma visão ocidental da Amazónia percebida como um lugar perigoso.
Inúmeras narrativas retratam a fauna hostil (cobras venenosas, micos, piranhas) e uma vegetação impenetrável, justificando assim a “conquista” dessas áreas por homens corajosos (aventureiros) ou forçados (degredados). Podemos citar os escritos dos primeiros exploradores europeus nos séculos XV e XVI (Francisco de Orellana, Lope de Aguirre).
O geógrafo François-Michel Le Tourneau, em “Le ‘Grand Bois’ à hauteur d'homme” (2019), desconstruiu esta narrativa do “inferno verde”, salientando que os exploradores europeus seguiram rotas bem conhecidas das populações indígenas, incluindo as utilizadas por mulheres com bebés ou crianças pequenas.
No século XX, Percy Fawcett, explorador britânico famoso pelas suas expedições à Amazónia, popularizou a imagem da floresta amazónica como um verdadeiro “inferno verde” onde a sobrevivência é uma luta constante. Evocando o sentimento de isolamento total e de solidão esmagadora no coração da imensa selva, desapareceu em 1925 na sua demanda por uma cidade perdida.
Ainda hoje, o imaginário do “inferno verde” está longe de ter desaparecido. Num vídeo oficial do Ministério da Defesa francês, a expressão “inferno verde” é utilizada para descrever o ambiente em que os militares franceses operam na Guiana.
A fórmula “inferno verde” também é usada por pseudo-aventureiros, youtubers e influenciadores que ainda transmitem a imagem de uma selva devoradora de homens, ecoando as narrativas coloniais dos primeiros conquistadores.
História da colónia penal, apelidada de “guilhotina seca”
O anúncio da construção de uma prisão de alta segurança na Guiana Francesa faz eco da história da colónia penal colonial no coração da floresta amazónica.
Desta forma, o Le Journal du dimanche, atualmente propriedade do multimilionário Vincent Bolloré, anuncia a entrevista exclusiva de Gérald Darmanin nestes termos:
“A partir da Guiana, o ministro da Justiça anuncia a criação de um bairro prisional de segurança máxima no coração da floresta amazónica [...] para encarcerar os mais perigosos criminosos do tráfico de droga e os islamitas.”
A origem da palavra “bagne”, que em francês remete para a colónia penal, vem do italiano “bagno”, que era o nome dos antigos banhos públicos de Constantinopla, reconvertidos em prisão de escravos aquando da chegada dos otomanos. Mas os bagnes de Caiena não são os mesmos que os de Constantinopla. No passado, a bagne da Guiana Francesa, com os seus vários complexos, tinha a alcunha brutal de “guilhotina seca”, para os 70.000 infelizes que aí se encontravam.
O historiador Michel Pierre, no seu livro Le Temps des bagnes, 1748-1953, contribuiu para uma melhor compreensão deste sistema de relegação social, destinado a enviar os condenados para um território concebido como “longe de tudo”, na periferia da República, permitindo-lhes afastar os elementos considerados indesejáveis pela sociedade metropolitana.
Na colónia penal de Caiena, formalizada em 1854 durante o Segundo Império, os condenados a penas inferiores a oito anos eram obrigados a permanecer na Guiana Francesa durante todo o tempo da sua pena. Após oito anos, o condenado devia permanecer no território para sempre.
Mesmo antes da construção da colónia penal, a Guiana Francesa foi utilizada para numerosas deportações políticas entre 1794 e 1805, no âmbito da Revolução Francesa de 1789.
A história da colónia penal da Guiana Francesa foi curta – um século – mas extremamente traumática. O navio San Mateo deixou a Guiana Francesa a 8 de agosto de 1953 com 58 prisioneiros a bordo que não tinham terminado as suas penas e 30 que tinham sido libertados. São os últimos degredados de França. O seu regresso à França metropolitana marca o fim da “fábrica de desgraças” descrita pelo jornalista Albert Londres.
As suas histórias foram trazidas à luz pelo jornalista em Au bagne, em 1924, no qual a sua pena transpira a dor dos condenados:
“E pela primeira vez, vejo a colónia penal! Estão lá cem homens, todos doentes do ventre. Os que estão de pé, os que estão deitados, os que gemem de dor. O mato está à frente deles, como uma muralha. Mas não são eles que vão derrubar a muralha, é a muralha que os vai apanhar. Isto não é um acampamento de trabalhadores, é uma cova bem escondida nas florestas da Guiana, onde são atirados homens que nunca mais sairão de lá”.
O dog whistle de Darmanin
Embora Gérald Darmanin não fale de uma colónia penal, invoca um “regime prisional extremamente rigoroso” que “põe as pessoas fora da capacidade de causar danos” ou a uma “tranca” nacional, sublinhando a geografia remota do local.
Podemos referir-nos ao “dog whistle” político, que consiste em jogar com símbolos de forma indireta, reativando no imaginário uma severidade de outra época.
O conceito de “dog whistle” (literalmente “apito de cão”) é uma técnica retórica subtil. De acordo com a definição académica, é uma mensagem conotada com um duplo significado que contém uma mensagem secundária dirigida a um grupo específico capaz de a “escutar” – tal como um apito de cão emite um som inaudível para os humanos mas percetível para os cães. Este grupo secundário é o alvo principal da comunicação do político.
Quando Donald Trump declarou recentemente que queria reabrir Alcatraz, estava a ativar um outro imaginário prisional histórico, seguindo o esquema do dog whistle. A prisão mais conhecida do mundo, pelas suas lendas, narrativas e filmes, excita os espíritos conservadores pela sua reputação de dureza e isolamento. Situa-se numa pequena ilha no meio da baía de São Francisco, rodeada de águas frias e correntes perigosas. A colónia penal da Guiana é a nossa Alcatraz.
Repensar a Amazónia
O anúncio da construção de uma prisão de alta segurança na Guiana Francesa e a cobertura mediática que lhe foi dada revelam a persistência de um imaginário da colónia prisional e de uma visão de um território inóspito.
No entanto, numa Amazónia com mais de 30 milhões de habitantes, os degredados e os aventureiros são tigres de papel que vivem sobretudo no imaginário ocidental e que mascaram os verdadeiros desafios do território.
Numa altura em que a COP 30 de Belém (novembro de 2025) ambiciona redesenhar a relação com a natureza amazónica, esta reativação de um imaginário neocolonial parece particularmente problemática. No futuro, a selva deverá ser vista como um lugar para viver e uma fonte de riqueza (bioeconomia), e não como um novo lugar de relegação.
Pierre Cilluffo Grimaldi é doutorando na Universidade da Sorbonne. É especialista nos imaginários amazónicos.
Texto publicado originalmente no The Conversation.