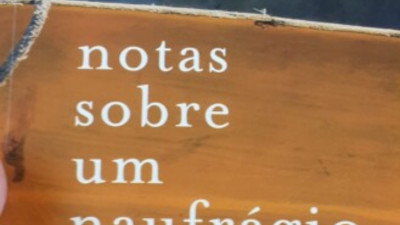“Acaso possuirá segredos para transformar a vida? Não, não faz mais que procurá-los, respondia a mim mesmo.” Arthur Rimbaud, Une saison en Enfer.
A proliferação de um conceito
A pandemia da Covid-19 que começou em 2019 constitui um acontecimento total porque incorpora, a uma escala mundial inédita, o entrelaçamento de todas as crises em curso e a ausência da qualquer saída previsível para o embalo catastrófico ao qual estamos a assistir. Suscitando a análise, o prognóstico, convidando a pensar as ruturas numa época que as tinha banido do seu horizonte, a situação tem, entre outros efeitos colaterais, provocado a proliferação impressionante da temática da biopolítica que se tinha desenvolvido no terreno da Filosofia crítica contemporâneo ao longo das últimas décadas.
As causas deste sucesso são múltiplas: devido ao seu teor tanto académico quanto sugestivo, à sua extensão indefinida e às suas conotações futuristas, ao seu perfume crítico e, claro, a uma ascendência foucauldiana tornada critério de verdadeira radicalidade, o termo parece o mais adequado senão para analisar as causas da situação, pelo menos para enunciar a amplitude dos seus desafios.
De facto, o termo “biopolítica” visa alcançar por si só numerosas tendências ascendentes que têm a ver com a vida, em ligação direta ou não com a questão epidemiológica: a multiplicação das zoonoses, os efeitos de grande escala do agro-negócio, as transformações da medicina e a associada renovação da bioética e do direito, o progresso da genética e da genómica, o papel da indústria farmacêutica, o patentear do vivo e a sua mercantilização, a ascensão das biotecnologias, o crescimento das temáticas pós-humanistas, a viragem ideológica das neurociências, a potência das correntes reacionárias pró-vida e do sobrevivencialismo, etc., tudo isto sob o fundo da urgência ecológica e de uma crise económica maior. Contudo, longe de ser um conceito estabelecido no quadro de uma análise precisa, o termo amálgama da “biopolítica” sugere sem definir todas as combinatórias visíveis da política e da vida, noções elas próprias profundamente polissémicas: a vida ou as ciências da vida como política, a política como vida, a vida como objeto da política, etc.
O paradoxo atinge o seu auge se juntarmos a isto que as noções de biopolítica e de biopoder, elaboradas por Foucault em meados dos anos 1970[1] permaneceram em construção: remodelando sem cessar estas categorias antes das abandonar, ele conferir-lhes-á o estatuto de pistas e de esboços de uma teoria da sociedade e do Estado que procurava ser, antes de mais, uma alternativa à crítica da economia política marxista e às suas consequências políticas. Dispensando as questões de organização da produção e do conflito de classes, abandonando as perspetivas de igualdade e da revolução, Foucault abordava a realidade política a partir um ângulo que combinava procedimentos de subjetivação e dispositivos de governamentalidade que trabalhavam tanto os corpos como as populações.
Se o termo “biopolítica” sobreviveu a este projeto, ao ponto de parecer erradamente resumi-lo e prolongá-lo, a sua retoma contemporânea implicou uma revisão radical. Alguns filósofos reajustaram a temática biopolítica, propondo abordagens rivais e incompatíveis, enriquecendo assim o vocabulário da biopolítica com alguns neologismo suplementares: “imunopolítica”, “tanatopolítica”, “bioeconomia”, “biocapitalismo”, etc. As noções de “biopoder” e “biopolítica” restauradas e fortalecidas para se tornarem conceitos, até mesmo doutrinas, tornaram-se assim o eixo de abordagens filosóficas que tendem a fazer da vida e da sua gestão o alfa e o ómega da política da sua história: é nomeadamente o caso de Giorgio Agamben e de Roberto Esposito.
Deixando de valer como meio de confronto com o marxismo e como hipótese de investigação, a biopolítica contemporânea enuncia-se no registo afirmativo do desvelamento. Em busca de fundamento metafísico e não de perspetiva política, reimplanta-se no terreno filosófico clássico que o pensamento crítico dos anos 1970 tinha abandonado.
Apesar da explosão da galáxia pós-foucauldiana a partir do seu coração biopolítico, o ponto comum destas diversas conceções consiste em afirmar que a rutura histórica já aconteceu, que se trata de a descrever e sem dúvida de a temer, mas que não existe nenhuma perspetiva de saída da armadilha de um capitalismo mais do que nunca apto a colonizar integralmente o corpo e os seres vivos.
Ao mesmo tempo, longe das considerações filosóficas cada vez mais distanciadas das ciências sociais e da história real, é também no terreno da análise económica e sociológica que continua a desenvolver-se um estudo do intrincamento crescente entre o capitalismo e as ciências da vida e que utiliza os termos “biocapitalismo” e “bioeconomia” ou ainda desenvolve a questão do trabalho vivo como o lugar central da residência à lógica capitalista.
Estas abordagens, não se preocupando com a questão dos fundamentos, esforçam-se por ser ao mesmo tempo descritivas e prospetivas, propondo uma análise por vezes crítica do neoliberalismo.
Nestas condições, mais do que propor uma enésima versão da tese biopolítica ou de nos dedicarmos a desqualificá-la, é mais oportuno considerá-la como uma das componentes do momento presente. Como compreender que esta temática, datada de mais de cinquenta anos, surja mais do que nunca como uma abordagem inovadora, validada pela pandemia ao ponto de elevar o presente à categoria de “momento foucauldiano”[2], consistindo o acontecimento antes de mais numa estranha coincidência por fim estabelecida entre “as palavras e as coisas”, entre o conceito dos anos 1970 e a sequência histórica atual?
Com vista a responder a esta questão, a primeira parte deste artigo é consagrada ao exame de certas versões principais da noção de biopolítica na esteira das análises propostas por Michel Foucault, recolocando esta história no contexto do assalto das políticas neoliberais e do enfraquecimento do movimento operário, das quais quais foram eco e por vezes fermento. A segunda parte propõe-se ligar esta crítica a uma abordagem marxista da reprodução social, visando redefinir uma noção de vida em ligação com uma política centrada na reconstrução coletiva de uma alternativa sólida ao atual capitalismo da catástrofe [3]. Mais do que uma biopolítica descritiva ou anunciadora do pior, trata-se de pensar uma vitalidade social concreta, atravessada de possíveis, engrenando-se com a vida no sentido amplo em que o capitalismo empreendeu uma mercantilização integral.
O biopoder segundo Michel Foucault, uma hipótese estratégica
Se o conceito de biopoder surge pela primeira vez na pluma de Foucault no primeiro tomo da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, ele encontra-se desenvolvido nos cursos pronunciados no Collège de France, primeiro em 1975-1976 (É preciso defender a sociedade), em seguida em 1977-1978 (Segurança, território, população) e em 1978-1979 (O Nascimento da biopolítica). Mas esta reflexão enraíza-se nos trabalhos anteriores, nomeadamente nas Palavras e as Coisas, publicado em 1966, que relaciona a ascensão da economia política com a das ciências da vida.

Stencil de Michel Foucault. Fotografia de duncan c/Flickr.
Este projeto de investigação, continuamente remodelado, construía-se em ligação com a grande mutação da paisagem política, ideológica e cultural francesa que se inicia em meados dos anos 1970 e que Foucault soube captar com uma acuidade sem par. As oficinas que são os cursos no Collège de France, bancos de ensaios para as hipóteses conceptuais mais audazes, dão a ver os ajustamentos sucessivos da reflexão foucauldiana e a manutenção do seu curso geral.
Numa carta de 1972, citada por Daniel Defert, Foucault anuncia que vai fazer a análise “da guerra mais desprezada: nem Hobbes, nem Clausewitz, nem luta de classes, a guerra civil” [4]. O primeiro modelo, o da guerra, tomado de empréstimo de Nietzsche, será desenvolvido no curso de 1976 antes de ser abandonado. Mas esta hipótese é ocasião para testar a definição de uma conflitualidade alternativa à luta de classes. Sobretudo, pretende englobar, fazendo da afirmação do conflito social um simples prolongamento do modelo recalcado e persistente que a fundaria, o da luta das raças. A tese é provocadora e tanto mais paradoxal quanto, ao mesmo tempo, a questão colonial se encontra quase silenciada.
Elaborado progressivamente no decurso dos anos seguintes, o conceito de “biopoder” dá por sua vez corpo provisoriamente a esta agenda de investigação. Apresenta-se como nova hipótese, reorganizando uma constelação de noções adjacentes, elas próprias remodeladas sem cessar, com vista a distinguir e cruzar diversas modalidades de poder. “Normas”, “governamentalidade”, “segurança”, “controlo”, “disciplinas”[5], etc. quadrilham este espaço teórico proliferando a partir do seu eixo central: repensar a política a uma distância dupla da soberania e do conflito social.
Alerta e móvel, reativa ao seu contexto e dedicada a construir uma compreensão global e inédita da história adequada à emergência de uma segunda esquerda, a reflexão foucauldiana permanece estruturada em redor de uma confrontação permanente com o marxismo. Quando o maio de 68 se afasta e a perspetiva comunista aprofunda a sua crise de longa duração, mas também no contexto do reforço do Programa Comum de União da esquerda, e face à hipótese repressiva partilhada pelo freudismo e pelo esquerdismo, Foucault orienta-se para uma história feita a partir de baixo profundamente ambivalente. Esta história, bem mais filosófica do que historiadora, presta atenção às normas e à forma como os indivíduos são ao mesmo tempo os seus retransmissores, os seus produtos e os pontos focais de uma resistência contínua que suscita e modifica as próprias formas de um poder doravante radicalmente deslocalizado e dessubstancializado.
Sublinhando a produtividade e a capilaridade do poder que estaria além da mera dimensão repressiva e vertical, a conceção foucauldiana do biopoder une-se a uma conceção do Estado e dos Aparelhos Ideológicos do Estado proposta no mesmo momento por Louis Althusser. O poder assim redefinido é indissociável de um saber que o inerva e suporta, nos antípodas da oposição tradicional entre oposição e verdade, entre ideologia e ciência. Mas a biopolítica, longe de ser a última palavra da análise foucauldiana é a ponta de lança de um projeto mais ambicioso: produzir uma outra crítica da economia política associada a uma nova conceção da subjetivação, passando pelo exame minucioso dos dispositivos punitivos, carcerais, médicos que se elaboram no curso da história.
No seu curso de 1976, Foucault desenvolve a hipótese do biopoder associando-a a uma teoria da governamentalidade que esvazia as relações sociais de produção, prestando uma atenção superior ao que seria o concreto por excelência: o corpo. Transitando segundo ele da prerrogativa de “fazer morrer e deixar viver” para a preocupação de “fazer viver e deixar morrer”, o poder metamorfoseia-se. Afirmando a tendência à ligação cada vez mais direta com os corpos de um poder tornado difuso, a teoria foucauldiana transforma desta forma o seu próprio desvio do Estado em facto histórico objetivo, que ratifica esta virulenta rejeição filosófica das mediações e das representações que partilha com a jovem Filosofia francesa não marxista deste período.
Esta tese de um biopoder que se estabelece na vida individual e social dissolve toda a conflitualidade social numa miríade de confrontos pontuais, movimento browniano perpétuo e sem resolução, “o poder nunca está inteiramente de um lado”, “ a cada instante, joga-se em pequenas partes singulares com as suas inversões locais, derrotas e vitórias regionais, vinganças provisórias”[6].
Se Foucault credita por vezes Marx por uma análise inédita das disciplinas [7], é para virá-lo melhor contra o resto das suas conceções, esforçando-se por cobrir todas as pistas e empreender um confronto tão minucioso que toma, por vezes, a aparência de uma reivindicação de filiação.
Última etapa, maior, desta trajetória, o estudo das teorias neoliberais no decurso do ano 1977-1978, conduz Foucault à afirmação de que o liberalismo dispõe por si só de uma autêntica “arte de governar” que, segundo ele, falta à tradição socialista. Mas o que é uma “arte de governar” se esta escapa a uma lógica da soberania doravante obsoleta? Nada mais, declara Foucault no ano seguinte que “a maneira refletida de governar da melhor forma”[8], cuja versão liberal está sempre por essência preocupada com a sua auto-limitação [9]. Com base numa análise dos saberes que rejeita o conceito marxista de ideologia, tomando literalmente os textos que aborda como discursos válidos pelo simples facto de serem dotados de eficácia, Foucault conclui que o liberalismo, ao longo da sua história e até nas suas variantes ordoliberal e libertária, “apresenta-se como uma crítica da irracionalidade própria ao excesso de governo” »[10]. É dizer pouco que tais definições eram e são agora mais do que nunca contestáveis.
Não deixa também de ser verdade que a temática do biopoder desempenhou um papel fundamentalmente estratégico num projeto foucauldiano em reconstrução permanente. No momento em que se afasta do esquerdismo para se aproximar dos rocardianos e da CFDT, ele abre a via de uma nova conceção de governamentalidade, que entra em ressonância com os esforços da segunda esquerda para inventar, face à perspetiva de uma união da esquerda vitoriosa, uma nova via social-democrata, abandonando qualquer perspetiva de rutura com o capitalismo sem aderir porém à direita tradicional.
Antes de ser a exploração da via neoliberal a ocasião de descobrir um esboço já avançado desta governamentalidade alternativa, é a hipótese do biopoder que o ajuda a redefinir o terreno, o método e os desafios do seu próprio projeto teórico e político. Desta forma, a noção de biopoder não tem como finalidade periodizar a história política em momentos distintos: Foucault sempre insistiu no facto de que os diferentes dispositivos de poder não se sucedem mas interpenetram-se e combinam-se. Por outro lado, a nova conceção da política que aqui se elabora é inseparável de uma nova conceção do saber e dos regimes de verdade, ou seja de um papel redefinido dos intelectuais, que foi uma das suas apostas maiores no contexto singular francês desta época.
Toda a dificuldade reside em compreender como é que o conceito foucauldiano de biopolítica, tão estratégico e potentemente determinado pela trajetória teórico-política do seu autor no contexto preciso em que queria intervir, pode ser reajustado, a grande distância do parênteses fordista-keynesiano e no contexto da vitória sem partilha das políticas neoliberais. Esta dominação, confrontada com a crise multiforme do capitalismo, é acompanhada de uma viragem autoritária e repressiva que parece contudo fazer em larga medida expirar de prazo esta análise da governamentalidade liberal.
Face a este enigma de uma reatualização a contratempo da noção de biopolítica, não bastará invocar a potência ideológica sem rival das instituições neoliberais e dos seu mil canais de transmissão, capaz de impor a linguagem de uma “boa governança”[11]. Porque é mais a combinação desta dominação com o vasto repúdio das políticas impostas, sob um fundo de declínio da perspetiva anticapitalista e de subida do medo de um colapso generalizado, que explica a proliferação presente de noções da biopolítica ou do biopoder diversamente remodeladas em constatações desencantadas de uma dominação integral.
No contexto de uma despolitização inquieta e de um conflito social de alta intensidade, a epidemia da Covid-19 reforça o sentimento de uma centralidade da vida biológica que apenas é igualdade pela sua precariedade crescente. Paradoxalmente, em nome da afirmação de uma ramificação direta da política na vida, o crescimento da temática do corpo revela-se um formidável instrumento de abstração, acompanhando a viragem metafísica da crítica. É preciso começar por examinar este paradoxo através das versões contemporâneas mais conhecidas e reconhecidas da biopolítica, as de Agamben e de Esposito.
Giorgio Agamben, a viragem ontológica da biopolítica
A epidemia da Covid-19 terá sido a ocasião, para Giorgio Agamben, de ver, no espaço de poucos dias, transportada às nuvens e depois condenada ao suplício a sua filosofia, inteiramente centrada na questão da vida, depois de ter arriscado publicar, no jornal italiano Il Manifesto a 26 de fevereiro de 2020, uma tribuna a denunciar as “medidas de urgência frenéticas, irracionais,e totalmente injustificadas para uma suposta epidemia”[12].

Pormenor de um mural com a figura de Giorgio Agamben. Foto de thierry ehrmann/Flickr.
No seguimento do escândalo provocado, Agamba precisa o seu ponto de vista numa entrevista publicada a 24 de março no Le Monde:
“O que a epidemia mostra claramente é oq eu o estado de exceção, com o qual os governos nos familiarizaram há muito tempo, tornou-se a condição normal. Os homens habituaram-se de tal forma a viver num estado de crise permanente que parecem não se aperceber que a sua vida foi reduzida a uma condição meramente biológica e perdeu não apenas a sua dimensão política mas também toda a dimensão humana.”[13].
Esta afirmação inequívoca oferece, não um resumo do pensamento de Agamben, mas condensa as suas conclusões ético-políticas, abstraindo-se da aparelhagem metafísica que as sustém. A sua obra desenvolve longamente o que já se espera: colocadas sob o signo de uma só questão: “o que é agir politicamente?”[14], os diversos tomo do Homo Sacer detalham os princípios e os desafios de uma conceção do “estado de exceção que tende cada vez mais a apresentar-se como o paradigma de governo dominante na política contemporânea”[15].
Esta conceção, que se inscreve expressamente na filiação crítica da biopolítica foucauldiana, apresenta com elas pontos em comum e divergências que, para serem compreendidas, devem ser ligadas à profunda transformação do contexto social e político a partir de meados dos anos 1970. Para dizê-lo resumidamente: enquanto que Michel Foucault podia ainda tentar apresentar o projeto neoliberal como o de uma governamentalidade auto-limitativa, preocupada com o bem-estar das populações e como oportunidade de subjetivação aberta ao cuidado de si, a hegemonia mundial das políticas neoliberais e o seu cortejo de regressões obrigou desde então a rever esta definição.
A opção escolhida por Agamben neste contexto político, económico e social profundamente modificado é reabilitar a noão de soberania estatal e propor uma teorização que faz do estado de exceção a estrutura fundamental da política ocidental, na sua relação pensada como essencial com a vida:
“Se a exceção é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere à vida e a engloba em si na sua própria suspensão, uma teoria do estado de exceção é então a condição preliminar para definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivo ao direito”[16].
O preço a pagar por esta simplificação da teorização biopolítica da relação entre vida e poder é a sua re-ancoragem num metafísica com pretensão universal, a grande distância do projeto foucauldiano e do seu reivindicado nominalismo.
Agamben constrói esta metafísica em torno de uma antiga distinção grega entre uma vida natural (zoè), própria a todos os seres vivos e uma “vida politicamente qualificada” (bios), um modo de vida particular, apenas próprio aos homens. Este modo de vida caracteriza-se pela “exclusão” e a “captura”, instaurando um estado de exceção em vias de tornar-se regra e que engedra a “vida nua” como aquilo que permite a articulação entre zoè e bios. Não precedendo a vida política mas resultando dela, a vida nua constitui contudo a estrutura originária da política que se revela na exceção como exclusão inclusiva. O “homo sacer” figura tutular que paira sobre toda a obra de Agamben, reenvia ao indivíduo que, no direito romano arcaico, pode ser sujeito à morte sem que se trate de um homicídio. Longe de ser uma aberração jurídica estritamente local e provisória, este estatuto revela segundo ele a própria estrutura da soberania, “a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui através da sua própria suspensão”.[17] Consequentemente, o modelo da guerra, abandonado por Foucault, volta a ganhar pertinência apesar do seu esquematismo. Agamben não teme mobilizá-lo e dramatizar ao extremo por ocasião da crise da Covid-19:
“É possível, até, que a epidemia que viemos seja a realização da guerra civil mundial que, segundo os politólogos mais atentos, tomou o lugar das guerras mundiais tradicionais. Todas as nações e todos os povos estão agora duradouramente em guerra contra si próprios porque o inimigo invisível e elusivo contra o qual eles estão em luta se encontra em nós”.[18].
Saudando “a tese de Foucault segundo o qual o “que está em causa agora é a vida”[19], Agamben afasta-se logo dela para considerar que:
“a potência absoluta e perpétua, que define o poder de Estado, não se funda, em última instância, numa vontade política, mas na vida nua, que é conservada e protegida apenas na medida em que se submete ao direito de vida e de morte do soberano (ou da lei)”[20].
Esta afirmação perentória, muito longamente argumentada, não recorre a nenhum dado factual mas mobiliza, ao lado de autores antigos e medievais, referências repetidas a Martin Heidegger, Carl Schmitt, Walter Benjamin mas também a Hannah Arendt, apesar da sua incompatibilidade mútua.
Abandonando a análise foucauldiana das normas e da sua função ambivalente de sujeição ao mesmo tempo do que de subjetivação, rejeitando sem a discutir a conceção marxiana de Estado, Agamben conduz a reflexão política para o terreno de uma cisão, filosoficamente construída, entre uma soberania pensada como trans-histórica e uma vida nua, julgada também imutável. Alguns exemplos mencionados de passagem, juntamente com uma crítica espantosa de Marx, são encarregues de sustentar a tese:
“À cisão marxiana entre homem e cidadão sucede assim a da cisão entre a vida nua, portadora última e opaca da soberania, e as múltiplas formas de vida abstratamente recodificadas em entidades jurídico-sociais (o eleitor, o trabalhador dependente, o jornalista, o estudante, mas também o seropositivo, o travesti, a pornstar, a pessoa idosa, o progenitor, a mulher).”[21].
Dissociada de qualquer exploração histórica das disciplinas, das tecnologias de poder e das formas de governamentalidade, que constituía o método foucauldiano, a narrativa línear que a substitui contenta-se em afirmar que “a máquina jurídico-política do Ocidente” tem por finalidade a produção da vida nua. O que é próprio desta vida nua é estar separada de toda a forma de vida e ligação a uma “antropogénes”, ou seja a um “devir humano do homem”[22]. Esta história, que fez progressiva e sistematicamente do estado de exceção a regra, revela doravante a sua essência escondida.
Por seu turno, Foucault concebia a perspetiva biopolítica como o laboratório da construção de uma alternativa ao marxismo, rivalizando com o seu projeto teórico de forma a desqualificar a sua perspetiva política, a abolição do capitalismo. Produzido noutro extremo desta sequência, uma vez derrotada a alternativa e desaparecida a esperança de um capitalismo estabilizado, e depois do programa foucauldiano ter mostrado a sua incapacidade de escapar da força de atração do neoliberalismo, a biopolítica perde toda a sua força. Resta-lhe jogar, em variações sem fim, no pathos de uma vida desarmada e ameaçada. A denúncia do Estado ocidental em geral e da sua tendência fundamental em chegar à lógica exterminadora do campo, nada menos, apenas oferece a perspetiva de um discurso que repete ad nauseam a profecia negra do seu próprio cumprimento[23].
Por detrás das suas refinamentos argumentativos, Agamben promove um anarquismo especulativo fundamentalmente binário, que opõe um poder tendencialmente exterminador e uma “potência destituinte” rebelde mas que invariavelmente a ele reconduz, exceto para finalmente conseguir “pensar (sic) um potência puramente destituinte, ou seja que não se resolve nunca num poder constituído” [24]. Retomando a lenga-lenga que diz que as revoluções caiem sempre por definição no estatismo e no autoritarismo, Agamben opõe-se a qualquer transformação do mundo económico e social. Restam a patrística e o aristotelismo medieval, que oferecem a erudição e a investigação de no novos costumes por mera consolação.
Algumas passagens levantam contudo dúvidas que se trate verdadeiramente de uma ética. Lembrando que os franciscanos nunca criticaram a propriedade, Agamben faz de São Paulo o percursor deste dessubjetivação e da “mística quotidiana” a que apela como única escapatória para a sujeição.
“Paulo “chama “usos” às condutas de vida que, ao mesmo tempo, não chocam frontalmente com o poder (…). Parece que a noção de uso, neste sentido, é muito interessante: é uma prática à qual não podemos atribuir um sujeito. Continuas a ser escravo, mas, uma vez que fazes uso, eventualmente, já não és escravo” [25].
“Eventualmente”, tudo se parece com efeito ao seu contrário, os atos indignos à mais alta moral e a santificação do presente à sua crítica radical.
O pensamento de Agamben transita então da ontologia à ontologia, ornamentando-se com alusões a um mundo real supostamente já inteiramente desvelado e reduzido à sua lógica jurídica imanente. Assim, a rejeição das contradições, outra herança das filosofias da sequência predcente, condu-lo a afirmar, sem a mínima matização e apenas de todos os dados factuais, um mundocial social cada vez mais homogéneo, sem classes, composto de indivíduos todos identicamente anestesiados, que chegaram ao estádio supremo do abrutecimento, com a exceção quase milagrosa do autor de tal diagnóstico:
“se precisássemos uma vez mais de pensar o destino da humanidade em termos de classe, deveríamos dizer que não existem mais hoje em dia classes sociais, mas unicamente uma pequena-burguesia planetária, na qual as antigas classes se dissolveram”[26].
De caminho, Agamben não hesita em afirmar que esta massificação confirma as teses fascistas cumprindo-as. Se o mundo é fascista, o fantasma fascista de um mundo social sem conflito não é nada mais do que a sua teoria adequada. E se a sua “mediaficação” social já não é o prognóstico encantador dos sociólogos sociais-democratas convertidos ao liberalismo, como Alain Touraine, passar a ser apenas a prova deste vitória irresistível porque já aconteceu:
“é exatamente o que o fascismo e o nazismo tinham igualmente compreendido, e ter compreendido claramente o irrevogável declínio dos velhos sujeitos sociais constitui de facto o seu inultrapassável toque de modernidade. (De um ponto de vista estritamente político, fascismo e nazismo não foram em nada ultrapassados e vivemos ainda sob o seu signo”[27].
Com Agamben, a biopolítica parece afundar-se literalmente na metáfora que a funda, designando apenas o conflito eterno entre duas entidades: o “poder”, sejam quais forem as suas formas e as suas épocas, é apenas um enxerto artificial cujas causas permanecem incompreensível. Esta conceção interdita encara uma qualquer perspetiva de democratização radical da organização social da produção, excluindo do seu campo de análise a questão da exploração e das dominações, assim como a das lutas que as combatem. Desta forma, depois de ter travestido o Estado contemporâneo em máquina de vocação exterminadora, a Agamben resta-lhe concluir que:
“a novidade da política por vir é que ele não será mais uma luta pela conquista ou o controlo do Estado mas uma luta entre o Estado e o não-Estado (a humanidade), disjunção irremediável das singulares quaisquer e da organização estatal”[28].
Do mesmo impulso, a ultrapassagem do capitalismo e a conquista do Estado são afastados, supostamente votados a uma recaída totalitária, em benefício de uma imediatez que reata sem o dizer com os ideais do romantismo reacionário e os seus cirurgiões vitalistas, de Edmund Burke a Friedrich Nietzsche e de Henri Bergson a Gustave Le Bon, para citar apenas estes nomes. A biopolítica assim compreendida reativa a velha conceção organicista da política:
“a política ocidental é neste sentido “representativa” porque ela já reformulou sempre o contacto sob a forma de uma relação. Convirá então pensar a política como uma intimidade não mediatizada por nenhuma articulação ou representação: os homens, as formas-de-vida estão em contacto, mas isto é irrepresentável, uma vez que consiste precisamente na desativação e na inatividade de toda a representação. A ontologia da não-relação e do uso deve corresponder a uma política não-representativa”[29].
No éter rarificado do conceito puro mas também no contexto da crise avançada das democracias parlamentares, tais frases soam mais precisas, numa primeira abordagens, uma vez que refletem e propagam uma despolitização de tão longa duração que engendrou o esquecimento e a negação desta história, a de uma derrota política e social da esquerda.
Conclusão literária da derrocada da esquerda italiana transformada em destino, estas análises tropeçam no entanto no que as deveriam confortar: a crise da Covid-19 não sublinha tanto o excesso de Estado em geral quanto a falta de serviços públicos reforçados e coletivamente geridos e mais amplamente criando formas democráticas de organização e de planificação do conjunto das atividades humanas.
A imunopolítica de Roberto Esposito
Filósofo italiano da mesma geração, Roberto Esposito propõe uma variante desta biopolítica reajustada às condições presentes, elaborando por seu turno a noção de “imunopolítica”, em ressonância forte com a atual pandemia. Produzindo uma segunda leitura dissidente da biopolítica foucauldiana, Esposito propõe compreender o cuidado imunitário como causalidade histórica profunda:
“esta exigência de isenção e de proteção – ligada originalmente ao domínio médico e jurídico, estendeu-se progressivamente a todos os setores e a todos os tipos de discursos da nossa vida, até se tornar ponto de fixação, real e simbólico, da experiência contemporânea”[30].

Roberto Esposito. Foto de wikinade/Wikimedia Commons.
Procurando escapar às aporias tal como ao impasse político ao qual conduziram os trabalhos de Agamben, Esposito conserva as preocupações ontológicas, colocando-se ele também em busca de um princípio último e abstrato de compreensão: é à oposição entre imunidade e comunidade que ele confia este papel. Segundo ele, se toda a sociedade exprime “uma exigência de auto-proteção”, tese apresentada como prova não precisando de nenhuma demonstração, esta exigência tornar-se-ia atualmente “o centro à volta do qual se constrói quer a prática efetiva, quer o imaginário, de toda uma civilização”[31].
Como em Agamben, o recurso apenas à etimologia permite exumar um fundamento escondido e duradouramennte atuante: em latim, immunistas e communitas derivam de munus, lei, cargo ou dom. Immunis designa então aquele que não tem obrigação faca a outrem. À luz desta argumentação que o autor qualifica de “etimológico-paradigmática”, a conclusão impõe-se tanto melhor quando precede e guia a análise:
“a democracia moderna fala uma linguagem oposta à da comunidade na medida em que ele integrou cada vez mais uma vontade imunitária”[32].
O diagnóstico político de Esposito é sombrio, distinguindo-se do de Agamben: “um mundo sem exterior – completamente imunizado – necessariamente não tem interior”[33]. O modelo imunitário da política está preso a uma metáfora que medicaliza o social para melhor denunciar de volta esta lógica, supostamente real, a título de uma dedução circular. Mas a circularidade da análise quer-se precisamente à imagem de um mundo que se auto-devora, afundando-se num jogo de espelhos sem fim entre identidade e falsa alteridade.
Assim, agarrando o caso das doenças auto-imunes, Esposito descreve o que estima ser a auto-destruição do mundo contemporâneo, clivado em “civilizações” diversas que, na realidade, formam apenas uma: o atentado do 11 se setembro de 2001 nos Estados Unidos, tornado acontecimento paradigmático,
“parece nascer de duas obsessões imunitárias opostas e simétricas – a de um integrismo islâmico decidido a proteger até à morte a sua pretensa pureza (…) e a de um Ocidente desejoso de excluir todo o resto do planeta da sua partilha sobrelotada das riquezas “[34].
Norte egoísta contra Sul invejoso, transformando a pobreza sofrida em pureza fantasmada: a análise atinge o seu apogeu quando apresenta esta oposição como um arco estável que o atentado do 11 de setembro teria quebrado.
Numa proliferação típica desta viragem metafísica da filosofia política contemporânea que propaga na realidade os piores clichés, Esposito não teme afirmar que “o que explodiu com as duas torres de Manhattan, é o duplo sistema imunitário que, até agora, sustentava o mundo”.[35]. Quanto à viragem securitária e autoritária do Estado neoliberal, longe de abrir caminho à análise das suas funções políticas e sociais, apenas é apreendido através de um modelo retórico, desta vez de ordem metonímica: a exclusão seria a verdade escondida da política, que a resume totalmente. Qualquer que ela seja, o autor repete, a modernidade caracteriza-se pelo facto de que a vida se tornou imediatamente política: a biopolítica é o nome da sua fusão em curso, a grande distância aí também ainda dos dispositivos de controlo estudados por Foucault.
Em Espositio como em Agamben, a reductio ad hitlerium, para retomar a fórmula de Leo Strauss, revela-se como o procedimento central desta biopolítica pósfoucauldiana. Creditando Nietzsche por uma lucidez política sem igual no que dizia respeito à dominação crescente que “a política” exerceria sobre “a vida”, Esposito considera que “o totalitarismo do século XX – e sobretudo o nazismo – marca o ponto culminante desta “tanato-política”[36]:
“como nas doenças auto-imunes, o sistema imunitário tornar-se tão forte que atinge o próprio corpo que deveria salvar e provoca a sua decomposição”[37].
Usando demais a metáfora, Esposito parece não se aperceber que legitima de passagem uma reação imunitária mais adaptada: difícil escapar ao plano de inclinação reacionário do vitalismo quando ele nunca é analisado.
Concedendo ao nazismo ter constituído “a sua própria filosofia”, no seguimento de Emmanuel Levinas[38], Esposito censura-lhe ser apenas “uma filosofia integralmente traduzida em termos biológicos”. Autoriza-se então a analisar o nazismo sob o ângulo desta transposição teórica, biologizante, substituída aos processos históricos reais, os da emergência histórica dos fascismos e do seu ressurgimento contemporâneo. Em virtude de uma análise estritamente retórica da história, que não se confronta com nenhuma outra análise, a abolição das mediações surge como um facto, tão irremediável quanto a confusão crescente entre a norma e a exceção:
“contrariamente às ilusões daqueles que acreditaram poder saltar para trás para reconstruir as mediações que organizam a fase precedente, a vida e a política estão doravante ligadas por um nó impossível de desatar”[39].
Estas mediações colapsadas que são o Estado e as instituições, mas também as formas organizadas da luta de classes, são ao mesmo tempo definidas como desvio e captura da vida. Como consequência, de facto, uma tal análise adere ao ódio fascista pelos partidos, sindicatos, parlamentos, sem temer fazer da ideologia que acompanhou a sua destruição violenta uma teoria válida.
Pagando o preço desta concessão exorbitante, a política por inteiro é apresentada como condenada a recair “cada vez mais no nível biológico nu”[40], o terrorismo culminando pura e simplesmente a thanato-política nazi.
“Não é apenas a morte que faz a sua entrada massiva na vida, mas a vida que se constitui como instrumento da morte”, enquanto que, uma vez mais ao espelho, “a prevenção relativamente ao terror de massa tende a apropriar-se e a reproduzir-lhe o funcionamento”[41].
A hipótese biopolítica, transformada desta forma em chave de compreensão universal, abre-se sobre um cenário catastrófico caricatural, sub-produto da filosofia da história invertida subjacente a esta variante política da colapsologia. Conduzindo ao desalento esmagador, ela já não rima com a esperança de uma terceira vaga, que Foucault trazia, mas com a constatação da sua derrota, alargada com a afirmação do desaparecimento não apenas de todo o projeto revolucionário mas também da menor possibilidade de transformação da vida social.
Se alguma esperança ainda se mantém à tona, no meio deste naufrágio da emancipação nas águas turva da vida e de uma política que nela já foi dissolvida, é apenas a perspetiva embaçada, nunca construída enquanto tal, de uma “democracia biopolítica – capaz de se exercer não sobre os corpos mas a favor do corpo”, o autor reconhece que o que pode “querer dizer hoje” esta fórmula é “muito difícil de indicar precisamente”[42]. Na filiação direta da tradição filosófica dos anos 1970 e da sua crítica do sujeito, Giorgio Agamben recomenda também a dessubjetivação, enquanto que Esposito se reivindica pela sua parte de uma “filosofia do impessoal”, a categora da pessoa sendo segundo ele o princípio de todas as discriminações.
Contudo, numa entrevista sobre a pandemia da Covid-19[43], Esposito inflete sensivelmente a sua análise e muda subitamente o seu vocabulário. Por um lado, enuncia que “a nossa sociedade capitalista é fundamentalmente uma sociedade desigual. Em situações de crise, esta desigualdade torna-se ainda mais pronunciada mas também menos suportável”. Por outro lado, tenta concretizar a sua noção de “biopolítica afirmativa”, preconizando investimentos no sistema de saúde pública, a construção de hospitais, a gratuitidade dos medicamentos, etc. Estas indicações, que procedem de uma crítica tradicional do capitalismo à qual a noção de biopolítica não acrescenta na realidade nada, não encontra nenhum eco na sua obra.
Por falta de uma tematização política destas propostas e de um estudo preciso e documentado da sequência neoliberal em curso, as sugestões de Esposito são uma menção rápida de receitas tradicionais, atualmente também em crise, constituindo esta crise a origem e o horizonte da sua reflexão:
“As instituições são necessárias. Mas, no que diz respeito às instituições, a questão é que nós não devíamos apenas pensar o Estado e os aparelhos de Estado. Uma instituição é também uma organização não governamental ou um grupo de benevolência.”
Apesar da sua relutância, o facto é que uma contradição tão manifesta coloca questões sobre todo o edifício conceptual que estas escassas linhas bastam para abalar.
Bioeconomia ou biocapitalismo?
Na base desta rápida apresentação, podemo-nos então interrogar: para que serve hoje em dia o conceito de biopolítica? Se é impotente para descrever adequadamente um estádio histórico determinado, não será apenas a expressão de um desespero político sublimado em metafísica última e em pathos erudito? Estará condenado a reconduzir, no final de argumentações similares, ao contornar de qualquer análise do capitalismo sem se dar ao trabalho de discutir as investigações existentes? A confrontação permanente de Foucault com Marx, e através dele com toda a alternativa socialista ou comunista, tinha continuamente dinamizado a sua investigação, constituindo a noção de biopolítica um dos dos seus marcos. O desaparecimento deste confronto dá lugar a um discurso que gira sem fim, vertiginosamente, em redor dos seus próprios pressupostos.
Por isso, será desejável simplesmente dispensar a noção de biopolítica reduzindo-a a uma conversa crepuscular? Porque ela não é sem sentido e ineficaz: se o que nela está errado é incitar à passividade, o seu mérito continua a ser de sublinhar a viragem assassina das políticas neoliberais e de alertar para a profundidade da destruição que elas impõem às nossas vidas e à natureza: ecocídio mas também femicídios e racismo, devastando a vida social, tornando mais evidente do que nunca a inclusão do mundo humano na natureza que ele transforma, tanto quanto a socialização que induz.
Mas, até para Hegel, as posturas das belas almas têm causas objetivas que convidam a ultrapassar o momento de pura lamentação. Estas causas devem atualmente ser procuradas nas crises interligadas do capitalismo, multiplicando-se umas através das outras. Se a pandemia sublinha o facto de que estas colocam, em última instância, a vida humana em jogo, são os processos em curso que é preciso perceber, as contradições e as brechas a abrir, as mediações e as transições a reconstruir no quadro das lutas de classes implacáveis do nosso tempo. A situação atual evidencia, não a vitória tendencial das lógicas de extermínio mas mais o endurecimento repressivo geral que acompanha a degradação do sistema de saúde pública depois de décadas de política neoliberal dedicadas a destruir e a mercantilizar os serviços públicos. Ora é esta dimensão que as análises biopolíticas contornam, incapazes de pensar a complexidade do Estado capitalista em ligação com a real relação de forças social e com a longa história conflitual que a sedimenta.
Outras abordagens que afirmam a centralidade da vida tentaram remediar estes defeitos. É o caso da temática bioeconómica, iniciada nos anos 1970 pelo economista Nicholas Georgescu-Roegen e que será retomado pelos defensores do decrescimento e da economia do desenvolvimento, como René Passet na França. Mas esta abordagem é igualmente re-explorada, em particular desde os anos 2010 e em ligação com a ascensão das preocupações ambientais, pelas instituições neoliberais e os seus promotores.
Pela sua parte, os teóricos liberais da bioeconomia tentam construir uma visão eufórica do capitalismo verde, baseado na transição tranquila entre o recurso a uma energia fóssil em vias de esgotamente e a utilização da biomassa renovável. A Comissão Europeia dotou-se de um “Observatório da Bioeconomia” e França, como outros Estados, declara-se desejosa de uma “estratégia bioeconómica”. O Clube de Roma foi um precursor na matéria, patrocinando junto do MIT, o prestigioso Massachusetts Institute of Technology, e divulgando a partir de 1972 o famoso relatório Meadows sobre “os limites do crescimento” e desenvolvendo o tema do “crescimento zero”, colocando acima de tudo em causa o crescimento demográfico nos países pobres. Se este relatório suscita então um vasto debate, fornecerá também a pretexto para que catastrofismo e conservadorismo alimentem laços estreitos, dando centralidade à questão da vida simultaneamente nos planos económico e ideológico.

Primeira edição dos Limites do Crescimento do Clube de Roma.
A temática biocapitalista distingue-se desta abordagem. Dado o caminho seguido pela temática biopolítica clássica, que opunha ao marxismo uma outra conceção da história, é impressionante que várias dos analistas contemporâneos do biocapitalismo procurem de novo na obra de Marx as vias de uma crítica renovada da economia política. Desta forma, o investigador em antropologia e novas tecnologias, Kaushik Sunder Rajan, propõe definir-se como “co-produção” a relação entre as ciências da vida de um lado e a política económica do outro, lembrando que “as ciências da vida são sobredeterminadas por estruturas da economia política capitalista no seio das quais elas emergem”[44].
Explorando a coexistência entre as lógicas mercantil e especulativa das indústrias farmacêuticas e biotecnológicas nos Estados Unidos e na Índia, sublinha a diversidade económica e social interna ao capitalismo. Mas as especificidades nacionais do biocapital devem ser elas própria religadas às estratégias diferenciadas dos grandes grupos industriais no quadro de um biocapitalismo global. Este não anuncia assim “uma nova fase do capitalismo”[45], constituindo “alguma coisa mais do que a simples intrusão do capital num novo setor das ciências da vida”[46].
Varrendo as velhas acusações de reducionismo feitas contra Marx, acusações retomadas nomeadamente pela tradição filosófica do biopoder, Sunder Rajan sublinha a capacidade sem par do marxismo em analisar a forma como os fluxos capitalistas “são constantemente animados por interações múltiplas, estratificadas e complexas entre os objetos materiais e as relações de produção estruturais por um lado, e as abstrações por outro, quer se tratem de formas de discurso, de ideologia, de fetichismo, de ética ou de sistemas de crenças e de aspirações redentoras e ou nacionalistas.”[47].
Só que ele quer isolar a “metodologia” que pede de empréstimo a Marx de qualquer opção revolucionária [48].
A socióloga Melinda Cooper dá um passo mais à frente na direção de uma politização da análise do biocapitalismo, estudando a articulação entre o atual regime de acumulação capitalista por um lado, e as ciências e tecnologias da vida por outro, mas também a sua combinação, à primeira vista improvável, com a ideologia da direita evangélica americana. Ela mostra que num sentido contrário à coloração esquerdizante e contestatária destas temáticas no mundo em que surgiram no terreno filosófico francês e europeu, a literatura pós-industrial norte-americana que se desenvolveu na esteira do relatório Meadows, tal como a ascensão correlativa da noção de “bioeconomia” abriram a porta à política neoliberal iniciada por Ronald Reagan,
“uma política que combinou um anti-ambientalismo virulento com cortes orçamentais na saúde pública e um investimento federal massivo nas novas biotecnologias”[49].

Melinda Cooper em 2012. Foto de Rosa Luxemburg-Stiftung.
Neste quadro, que é também o de uma política americana imperialista, Melinda Cooper assinala a existência de um “intenso tráfico de ideias entre a biologia teórica mas recente e as retóricas neoliberais do crescimento económico” [50]. Ela evidencia a construção ideológica que vai permitir aos neoliberais, sob a presidência de George W. Bush, combinar o desenvolvimento do setor biomédico e em particular da investigações sobre células estaminais provenientes de embriões congelados, a mercantilização das ciências da vida mas também a reorientação da biologia para fins militares, as doutrinas reacionárias pró-vida e sobrevivencialista, o supremacismo branco, o discurso neo-conservador e um teologia protestante da dívida, expressamente reajustada a este objetivo.
“O imperialismo americano (…) deve ser compreendido como a forma extrema, “a forma cultural” do capital”[51].
O recurso às categorias elaboradas por Marx permite-lhe pensar a articulação entre esta ideologia em reconstrução permanente e o dinamismo contraditório do capitalismo:
“a vontade de ultrapassar os seus limites e de se deslocalizar no futuro especulativo é a própria definição dos movimentos do capital segundo Marx”[52].
Esta hegemonia neoliberal, obrigada à ofensiva permanente, sabe efetivamente ligar os seus discursos e práticas, acompanhando a ascensão de uma bioeconomia ao mesmo tempo globalizada e diferenciada, no quadro de uma lógica imperialista conflitual e em ligação com uma conceção do trabalho de produção e de reprodução pensados como custos a reduzir. Por isso a indústria farmacêutica europeia e norte-americana deslocaliza os seus ensaios clínicos em cobaias humanas para zonas onde as suas obrigações éticas são mais fracas, na Índia e na China em particular:
“esta tendência à deslocalização do trabalho biomédico e clínico, tal como a emergência de mercados transnacionais de “doadores” de órgãos, de sangue, de tecidos e de óvulos, testemunha a nova divisão do trabalho, da vida e das mais-valias que são suscetíveis de se acumular no quadro de uma autência bioeconomia”»[53].
Concluindo, evoca sem precisar mais a emergência associada às “novas modalidades de contestação”[54].
Apesar dos seus limites, uma tal análise do biocapitalismo, rompendo com a metáfora vitalista assim como com a tese de um transplante imediato da política na vida, empreende o estudo das estratégias desenvolvidas pelos responsáveis neoliberais altamente conscientes dos interesses de classe que defende e manuseando uma arte consumada das mediações e do lobbying. A sua atividade e convicções violam em todos os aspetos as teorias da biopolítica: nos antípodas de um cuidado das populações, segundo a hipótese que consiste em tomar ingenuamente à letra a primeira versão do discurso neoliberal, mas longe de toda a lógica exterminadora, é o reforço da exploração e todas as formas de opressão que aí se combinam, que lhes surge como o único meio para escapar à crise do capitalismo, à fraqueza presente dos ganhos de produtividade e às ameaças que esta faz pesar sobre as taxas de lucro.
Esta lógica da mercantilização integral e da destruição das conquistas sociais anteriores inclui uma nova relação face aos saberes que chega até à falsificação das relações científicas ao ponto de, segundo o biólogo marxista Rob Wallace, “o desvio da ciência para fins político entrou ele próprio na sua fase pandémica”[55]. Nestas condições o surgimento do vírus torna-se mesmo, sob certos pontos de vista, uma verdadeira oportunidade concorrencial:
“no decurso desta espécie de guerra bioeconómia, a indústria agroalimentar pode prosperar enquanto as estirpes de gripe mortais provenientes das suas próprias atividades se propagam aos concorrentes menos potentes. Nenhuma teoria da conspiração é necessária: nenhum vírus foi concebido em laboratório, nenhum ato consciente de espionagem ou de sabotagem teve lugar. Trata-se aqui mais de uma negligência crescente face ao risco mortal que advém quando os custos da pecuária intensiva são externalizados”[56].
Por conseguinte, nos antípodas da teoria de tendências conspiracionistas de Agamben, a verdadeira potência da ideologia que acompanha este mundo ao contrário que é o capitalismo consiste não em mentir mas em produzir um discurso que apresente uma capacidade descritiva real, re-ajustando os pressupostos e as crenças dominantes aos factos, combinando este discurso a práticas e políticas concretas, que parecem, por sua vez, valida-los.
A Covid-19 é um exemplo perfeito da estratégia do choque teorizada por Naomi Klein, ocasião para acelerar as políticas neoliberais, estender o controlo e a repressão das classes populares e mobilizações sociais, reforçar fronteiras, atiçar o racismo e o nacionalismos, aumentar a dominação das mulheres e acelerar a destruição da natureza, enquanto a própria pandemia e o desastre sanitário associado são o produto direto destas mesmas lógicas capitalistas: desmantelamento avançado dos serviços públicos, extrativismo desenfreado, urbanização anárquica, desflorestação e destruição de habitats naturais das espécies patogénicas, extinção animal em massa, explosao do agro-negócio, sujeição das ciências, indústria farmacêutica focada nos lucros, etc.
Por detrás do caráter aparentemente natural da epidemia transparecem tendências de fundo do capitalismo contemporâneo financeirizado. A destruição da medicina pública é uma escolha, que a tornou incapaz de fazer face ao afluxo de doentes contribuindo para transformar rapidamente a propagão de um vírus, indiscutivelmente perigosos mas relativamente pouco letal, num desastre sanitário de grande amplitude.
Se, do desencadear da pandemia até à sua gestão, é o capitalismo que está em causa, como opor a uma lógica tão consistente e potente, apesar da sua crise radical, um projeto alternativo que não se fique por ser um contra-discurso ou as variações infinitas sobre o catastrofismo biopolítico, mas que saiba ele também ancorar-se concreta e estrategicamente nas práticas, nas lutas, nas formas de organização aptas a combater a destruição em curso? Dito de outra forma, como reconstruir num mundo digno desse nome as solidariedades existentes e persistentes?
Metabolismo e reprodução social
Não se trata então de acabar com a questão da vida mas de a redefinir e a repolitizar com a finalidade de intervir nas contradições mais vivas de uma sequência histórica e de que a pandemia sublinha e acelera, como se disso houvesse necessidade, o curso catastrófico. Sinalizar estas contradições não é deplorar uma tendência irresistível para a colonização do mundo e dos saberes sob a ação de um poder ou de tecnociências diretamente ramificadas sobre o ser vivo, deixando uma tal análise esmagar o espaço social e político da intervenção coletiva. Trata-se mais de confrontar como tal, teórica e politicamente, um capitalismo contemporâneo confrontado com a sua não-viabilidade crescente e com a contestação radical que ele ao mesmo tempo engedra e combate. A exploração de uma tal dialética, para além de todas as oposições sumárias e congeladas, é a condição da reconstituição de uma perspetiva política de transformação radical, cujo projeto constitui o princípio de análise do capitalismo proposto por Marx sob o nome de “crítica da economia política”.
Ora, interditando pensar as contradições reais no quadro de análise dialética, odiada por Foucault, a biopolítica e os seus derivados reconduziram e amplificaram a cisão de ascendência liberal que tende a cortar a política das relações de produção. Operador conceptual do longo contornar das questões da produção e da reprodução, esta abordagem contribuiu em primeiro lugar para recentrar a crítica sobre as questões da circulação e do consumo, depois fechando a análise nas formas aperfeiçoadas do “controlo”, que tomam por alvo os corpos individuais, antes de terminar como uma metafísica aterrorizante. Enquanto que a temática da biopolítica e do corpo pretendia exumar o nível político mais fundamental e mais radical, ela permaneceu nas formas de surgimento e manifestação das relações sociais, sem nunca proceder ao estudo das formas concretas de exploração e da dominação contemporâneas.
Mas, longe de uma biopolítica descritiva ou anunciadora do pior, como repensar uma vitalidade social tão tenaz quanto frágil, atravessada por possíveis e engrenando-se efetivamente nos fenómenos biológicos e naturais sobre os quais o capitalismo empreendeu a mercantilização integral, a fim de operar a reapropriação das nossas vidas sociais e sensíveis? É esta pista que exploram, por exemplo, os promotores da corrente “Structural One Health” que propõem uma abordagem histórico-materialista da etiologia religada a uma análise precisa do capitalismo contemporâneo, das suas cadeias mundiais e das suas consequências sociais e ecológicas[57].
Abordada sob este ângulo, a temática da vida surge redinamizada pelas lutas sociais e perspetivas estratégias que integra na sua abordagem. Dois eixos em particular devem ser reexplorados. O primeiro é o do trabalho vivo e da força de trabalho, permitindo reinvestir a questao da produção abandonada pelas temáticas biopolíticas. O segundo, em ligação com o precedente, é o da reprodução social, metabolismo de nível dois, que implica, retomar não a metáfora vitalista e os seus impensados naturalizantes mas a questão da unidade humanidade-natureza com objetivo de a reajustar aos desafios políticos mais vivos e efervescentes da nossa época.
Nos dois casos, trata-se de abandonar a oposição simples do dinamismo vital contra as estruturas mortíferas. Já que o capitalismo é ele mesmo um processo dinâmico e adaptativo – mesmo que só ganhe vida vampirizando a atividade social, segundo a fórmula de Marx –, estando estruturado segundo formas e instituições que asseguram a sua reprodução e regulação. Diferencia-se dos outros modos de produção devido à sua tendência de se apropriar tão completamente quanto possível da força de trabalho e tempo de vida e antecipar o futuro. A este respeito, as diversas análises do trabalho vivo enquanto lugar central de resistência à lógica capitalista, desenvolvidas pelos operaistas italianos, Toni Negri, pelos teóricos da Wertkritik ou ainda por Christophe Dejours, apelam a uma discussão que não tem lugar aqui.
Retomada como contradição histórica determinada, a alienação capitalista é lugar da luta entre uma aspiração à reapropriação das suas próprias capacidades humanas e o seu esmagamento mutilador. A questão é então muito estratégica e não metafísica: como, a partir desta aspiração, desencadear uma “revolução democrática do trabalho”[58], uma reapropriação das atividades humanas cujos resultados se encontram separados dos seus produtores e voltados contra eles, no terreno económico e político mas também cultural? Pensada desta forma, a questão da vida alarga-se à capacidade de invenção coletiva e revolucionária das formas adequadas à reorganização da relação sociedade-natureza, que constitui um metabolismo específico.
Esta noção de metabolismo, utilizada por Marx e renovada nomeadamente por John Bellamy Foster e outros[59], que fez nascer um debate muito rico sobre a “Metabolic Rift Theory” (a teoria da rutura da troca metabólica), permite ultrapassar a ideia de um simples face a face exterior entre homens e natureza. Abre caminho ao que poderia ser uma redefinição política e estratégica da vida em sentido amplo, como lugar da luta agora decisiva entre uma reapropriação democrática da nossa história coletiva ou então a sua devastação capitalista, ameaçando todas as formas de vida. Esta abordagem faz da luta de classes organizada o meio para reconectar a questão das necessidades sociais e da reprodução social, em sentido amplo, em combate contra o conjunto das dominações existentes, permitindo pensar a federação política das lutas, não como simples adição de conflitos esparsos, mas como colocação em rede de confrontos sociais, ligados a um modo de produção entrado na sua fase mortal de “capitalismo da catástrofe”.

Diagrama sobre o fluxo de recursos naturais. Fonte: Wikimedia Commons.
É este desafio, tão considerável quanto urgente, que a atual pandemia e a ascensão concomitante da temática biopolítica faz brilhar, falhando em lançar luz sobre o emaranhado de causalidades e do seu enraizamento no trabalho social de produção e de reprodução da vida social por inteiro. O facto de que os migrantes, as pessoas racializadas, as mulheres, as classes trabalhadoras, o Sul global, sejam as primeiras vítimas desta crise, dito de outra forma que “a propagação da Covid-19 apresente todas as características de uma pandemia de classe, de género e racializada”, [60], como escreveu David Harvey, mostra que a biopolítica não é decididamente nem o nome do problema nem o da solução mas mais a intuição de desafios de dimensão sem precedentes
As teorias da reprodução social situam-se precisamente no terreno é visado, sem o atingir, a noção de biopolítica, uma vez que funde e confunde registos ao invés de articular atividades no seio do modo de produção que lhes confere a sua unidade. Se nos situarmos no terreno da economia política como Marx a concebia, ou seja não reduzindo nunca a questão da produção apenas à sua dimensão económica, ela própria tantas vezes erradamente resumida na sua dimensão mercantil, a produção é inseparável da reprodução: a reprodução é a operação quase biológica e contudo fundamentalmente social de reconstituição da força de trabalho mas também de reprodução das próprias relações sociais, dia após dia.
Reprodução e produção não são dois vetores distintos da vida social mas duas dimensões de uma mesma lógica. Em virtude da sua análise do modo de produção como totalidade contraditória, Marx pode afirmar que “todo o processo de produção social é ao mesmo tempo processo de reprodução”[61]. A distinção provém do facto do processo de produção, considerado como processo de reprodução, “não produz apenas mercadoria, mais-valia, produz e reproduz a relação capitalista propriamente dita, de um lado o capitalista, do outro o operário assalariado.”[62]. Aqui não é a vida nua que se identifica por detrás dos dispositivos do poder, é pelo contrário a vida social, concretamente determinada, tratando-se de pensar a produção e reprodução especificamente capitalistas.
Esta reprodução visa a perpetuação do trabalho assalariado enquanto tal e assim da própria força de trabalho, nas condições concretas e na medida exata em que “esta reprodução ou perpetuação constante do operário é a condição sine qua non da produção capitalista”[63]. Mas este processo é, por isso mesmo, o lugar de uma contradição essencial que faz confrontar-se a lógica capitalista de transformação da força de trabalho humana em pura e simples mercadoria e o facto, que Marx sublinha, que esta não é produzida como mercadoria mas apenas trocada como tal por aqueles que são dela portadores. Esta troca é o resultado de uma longa história da formação social capitalista que separa os trabalhadores dos meios de produção para os converter em assalariados.
Mudar a vida?
Se a “vida” do capitalismo e a vida imposta pelo capitalismo devem ser combatidas é precisamente porque elas carregam em si o seu caráter propriamente invivível e profundamente mortífero que as torna insustentáveis. Há que precisar desde já que está afirmação não decorre de um julgamento moral ou da confrontação desta forma de vida desviada de uma “vida verdadeira” que se revelaria uma crítica do tipo ontológico. Resulta desta crítica imanente e objetiva desenvolvendo ao mesmo tempo as contradições reais e as lutas conscientes que elas alimentam.
Nancy Fraser escreve que
“toda a forma de sociedade capitalista abriga uma “tendência à crise” ou uma “contradição” social-reprodutiva ancorada na profundidade. Por um lado, a reprodução social é uma condição de possibilidade de uma acumulação duradoura do capital; por outro lado, a orientação do capitalismo para a acumulação ilimitada tende a desestabilizar os próprios processos de reprodução social sbre os quais se apoia.”[64].
Esta contradição adquire uma dimensão política potencial, amplificada pela atual crise sanitária:
a proteção relativa da força de trabalho, através de decisões que abrandam ou mesmo param certos setores da produção, entra em relação complexa, conflitual, com uma lógica capitalista de precarização dos assalariados, que colocação em concorrência e de hierarquização social que combina racismo, sexismo e exploração.
Abrindo e fazendo crescer uma “crise de reprodução” específica mas inseparável da crise de conjunto do capitalismo, esta contradição explode e impõe justamente que se coloque a temática da vida no centro da análise. É o que tentam fazer algumas abordagens da teoria da reprodução social, desejosas de contribuir para a mobilização política anticapitalista:
“a teoria da reprodução social visa antes de mais compreender como as categorias da opressão (como o sexo, a raça e o capacitismo) são co-produzidas simultaneamente com a mais-valia.”[65].
Para quem, neste quadro, se reivindique do marxismo, é na ligação direta com a questão da luta de classes que as questões contemporâneas da vida se esclarecem. Segundo Martha Gimenez[66], em conformidade com a ideia marxiana de que o modo de produção determina o modo de reprodução, é o controlo exercido pela classe capitalista sobre as suas próprias condições de reprodução e sobre as das classes laboriosas que determina em última instância as relações entre os sexos e o papel da família.
Mas este controlo é ele próprio contraditório: no capitalismo, o trabalhador despossuído dos meios de produção é proprietário da sua força de trabalho, que vende “livremente” e que mantém também “livremente”, cabendo esta manutenção à esfera privada, separada do mundo da produção social. Esta separação conduz a fazer da família nuclear e do trabalho doméstico assegurado pelas mulheres, o lugar central da reprodução da força de trabalho.
Atravessado por relações de dependência e de dominação que tomam a aparência de escolhas livres mas também as de uma dominação que seria estritamente masculina, o lar é o lugar onde se exerce e se traveste uma causalidade complexa, mostrando a ambiguidade ou mais exatamente a natureza propriamente dialética de todas as mediações reconfiguradas pelo capitalismo: como o Estado, como o saber, como a moeda, o lar está constituído como esfera separada que refrata e reproduz as relações sociais de produção que parecem à primeira vista ser-lhe exteriores, até radicalmente estranhas.
Assim, como todas as outras mediações, a estrutura familiar, o estatuto das mulheres e em particular as mulheres racializadas a quem são delegadas as tarefas domésticas sob a forma mercantilizada, mas também as sexualidades, são lugares de lutas específicas. Estas lutas, se concebidas de forma estreita, podem alimentar lógicas identitárias fechadas, mas também se podem tornar o lugar ativo de um tomada de consciência anticapitalista crescente, suscetível de colocar na ordem do dia, através da sua estruturação política e crítica, a perspetiva da abolição do capitalismo.
Deste ponto de vista, afirmar a centralidade das relações de produção capitalistas não menoriza as lutas feministas (ou anti-racistas), na sua ligação fundamental à questão ecológica, antes pelo contrário: esta afirmação consiste em reconhecer ao mesmo tempo a subordinação causal e a centralidade vivida como decisiva do trabalho reprodutivo que, em todos os seus aspetos, contribui, para forjar a força de trabalho como capacidade ou potência do indivíduo vivo, irredutível ao seu estatuto de assalariado e em luta por condições de vida conformes a esta essência social historicamente construída:
“o trabalho humano está no coração da criação ou da reprodução da sociedade como um todo”[67].
Reciprocamente, reduzir as questões da reprodução às questões da produção achata e oculta a estruturação complexa das relações sociais capitalistas e, consequentemente, ignora os desafios globais das reivindicações e aspirações, sempre individuais sem deixar de ser íntimas. É precisamente neste ponto que uma figura de “vida verdadeira” se pode construir, que não tem nada de um sonho eternamente adiado para as calendas, nada também de um programa exterior aos mil conflitos reais nos quais estamos implicados. Viver melhor, viver verdadeiramente, desde já, é lutar e conseguir ao mesmo tempo metabolizar as nossas lutas em força política coletiva.
Isabelle Garo é filósofa especialista no pensamento de Marx. Co-dirige a revista Contretemps, faz parte da equipa de redação da revista Europa e é responsável pela coleção Lignes Rouges nas edições Amsterdam.
Texto publicado na revista Contretemps. Traduzido por Carlos Carujo para o Esquerda.net.
Notas
[1] A invenção do termo “biopolítica” data do início do século XX e é devida a Rudolf Kjellén, especialista e ciências políticas e teórico organicista do Estado concebido como “forma de vida” específica. Ver Thomas Lemke, Biopolitics – An Advanced Introduction, New York & London, New York University Press, 2011, pp. 9-10.
[2] Annie Cot, Quand Michel Foucault décrivait ‘l’étatisation du biologique’, Le Monde, 20 abril 2020.
[3] Segundo a expressão de Naomi Klein: La stratégie du choc: montée d’un capitalisme du désastre, Arles, Actes Sud, 2008.
[4] Daniel Defert, Chronologie in: Michel Foucault, Dits et Ecrits, I, Paris, Gallimard Quarto, 2001, p. 57.
[5] O termo “disciplina” nomeia os mecanismos de poder que visam o corpo individual, enquanto que o de “biopoder” designa a sua extensão, datada do fim do século XVIII, à escala das “massas humanas”. Ver Michel Foucault, Il faut défendre la société - Cours au Collège de France 1976, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 1997, p. 222.
[6] Ibid., p. 218.
[7] Ver nomeadamente Michel Foucault, Les mailles du pouvoir, (conferência dada na Universidade da Bahia, 1976), Dits et Ecrits, II, Paris, Gallimard Quarto, 2001, pp. 1001 e seguintes.
[8] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique – Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Gallimard-Seuil, 2004, p. 4.
[9] Ibid., p. 23.
[10] Ibid., p. 327.
[11] É interessante notar que a temática caída em desuso da “governability” ressurge em 1975 no relatório da Comissão Trilateral, pouco antes de Foucault ter elaborado a noção de “governamentalidade.
[12] Em Il Manifesto. Tradução francesa publicada por Acta.
[13] No Le Monde.
[14] Giorgio Agamben, Homo sacer II-1, Etat d’exception, Paris, Seuil, 2003, p. 168.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid., p. 169.
[18] Giorgio Agamben, La médecine comme religion, Lundi Matin, n° 242, 12 de maio de 2020.
[19] Giorgio Agamben, Homo sacer IV-2, L’usage des corps, Paris, Seuil, 2015, p. 290
[20] Ibid., p. 289.
[21] Ibid., p. 290.
[22] Ibid., p. 289.
[23] A crítica da componente jurídica desta argumentação foi desenvolvida por Christos Boukalas, No exceptions: authoritarian statism. Agamben, Poulantzas and homeland security, Critical Studies on Terrorism, 7 ; 1, 2014, p. 112-130.
[24] Giorgio Agamben, Homo sacer IV-2, éd. cit., p. 365.
[25] Une biopolitique mineure, entrevista com Giorgio Agamben, Vacarme, n°10, 2 de janeiro 2000.
[26] Giorgio Agamben, La communauté qui vient – Théorie de la singularité quelconque, Seuil, Paris, 1990, p. 64.
[27] Ibid.
[28] Ibid., p. 88.
[29] Giogio Agamben, Homo sacer IV-2, éd. Cit., p. 327.
[30] Roberto Esposito, Communauté, immunité, biopolitique – Repenser les termes de la politique, Les Prairies ordinaires, Paris, 2010, p. 132.
[31] Ibid.
[32] Ibid., p. 99.
[33] Ibid., p. 111.
[34] Ibid., p. 138.
[35] Ibid., p. 139.
[36] Ibid., p. 159.
[37] Ibid., p. 160.
[38] Emmanuel Lévinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, Paris, Rivages, 2018.
[39] Roberto Esposito, Communauté, immunité, biopolitique, éd. Cit., p. 163.
[40] Ibid., p. 164.
[41] Ibid., p. 166.
[42] Ibid., p. 227.
[43] The Biopolitics of Immunity in Times of Covid-19; entrevista com Roberto Esposito, Antipode Online, 16 de junho de 2020.
[44] Kaushik Sunder Rajan, Biocapital – The Constitution of Postgenomic Life, Durham, Duke University Press, 2006, p. 6.
[45] Ibid., p. 277.
[46] Ibid., p. 283.
[47] Ibid., p. 20.
[48] Ibid., p. 7.
[49] Melinda Cooper, Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era, Washington, University of Washington Press, 2015, p. 18.
[50] Ibid., p. 20.
[51] Ibid., p. 165.
[52] Ibid., p. 25.
[53] Ibid., p. 175.
[54] Ibid., p. 176.
[55] Rob Wallace, Big Farms Make Big Flu – Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science, New York, Monthly Review Press, 2016, p. 22.
[56] Ibid., p. 115.
[57] “Para os apoiantes da Structural One Health, a chave consiste em determinar como as pandemias na economia mundial estão ligadas aos circuitos dos capitais modificam rapidamente as condições ambientais”, John Bellamy Foster e Intan Suwandi, Le Covid-19, la crise écologique et le ‘capitalisme de catastrophe’, Contretemps, 24 de julho de 2020.
[58] Alexis Cukier, Démocratiser le travail dans un processus de révolution écologique et sociale, Les Possibles, 24, Verão de 2020, Attac.
[59] John Bellamy Foster, Marx écologiste, Paris, Editions Amsterdam, 2011.
[60] David Harvey, Covid-19: où va le capitalisme ? Une analyse marxiste, Contretemps, 7 de abril de 2020.
[61] Karl Marx, Le Capital, Livro I, Paris, PUF, 1993, p. 635.
[62] Ibid., p. 648.
[63] Ibid., p. 641.
[64] Nancy Fraser, Crisis of Care? On the Social-Reproduction Contradictions of Contemporary Capitalism, in: Tithy Battacharya (ed.), Social Reproduction Theory – Remapping Class, Recentering Oppression, London, Pluto Press, 2017, p. 63.
[65] Tithy Battacharya, Mapping Social Reproduction Theory, in: Tithy Battacharya (ed.), Social Reproduction Theory, éd. cit., p. 46.
[66] Martha Gimenez, Marx, Women and Capitalist Social Reproduction: Marxist Feminist Essays, Leiden, Brill, 2018, ch. 2.
[67] Tithy Battacharya, Mapping Social Reproduction Theory, éd. cit., p. 15.