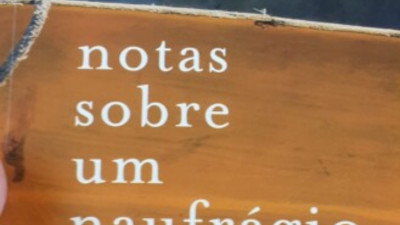De um modo singular, a totalidade volta sempre a aparecer quando menos esperamos. E temos aqui de repente o planeta paralisado por uma emergência sanitária que produzirá uma crise económica e que, em consequência, obriga a mobilizar medidas políticas inéditas. De repente, saímos do ensimesmamento porque há alguma coisa no centro: relembramos que temos um mundo comum. Estamos, dizem, na presença da maior interrupção da normalidade e da vida quotidiana desde as duas guerras mundiais.
Face a algo assim, o pensamento altera-se necessariamente. Surgiram páginas de internet que recolhem textos e artigos sobre o assunto; inclusive acabou de se editar Sopa de Wuhan, uma compilação do “pensamento contemporâneo à volta da COVID 19”. O que estão a dizer os pensadores sobre a pandemia?
A pandemia é, em primeiro lugar, um ponto de cruzamento entre determinações naturais e determinações sociais, assinala Alain Badiou. Isto significa que, ainda que o vírus como tal seja um fenómeno biológico, a maneira como vai afetar as populações vai depender de inúmeras condicionantes sociais. Significa, também, que se abre a porta para reeditar diversas variantes da chamada “dialética da Ilustração”: após o processo tecnológico, o domínio e o desencantamento do mundo, a razão torna-se mitologia e a “Natureza” esquecida regressa. É a inspiração do antropólogo Michael Taussig quando escreve que os cisnes e os golfinhos entram nos canais de Veneza enquanto o gotejar incessante de mortes nos devolve a “Morte em Veneza” e os turistas fogem apavorados para se fecharem no Grande Confinamento foucaultiano.
Há outro cruzamento sobre o qual também se tem escrito muito nestes dias: o do indivíduo e da comunidade. Esta pandemia parece ter duas caras. Por um lado, as medidas de confinamento impõem uma situação de isolamento e distanciamento social. Giorgio Agamben, em fevereiro, foi o primeiro pensador a pronunciar-se. No seu entender, desenha-se um cenário de privação de liberdades e a “tendência crescente de utilizar o estado de exceção como paradigma normal do governo”; ou pelo menos, o congelamento dos vínculos e uma certa rutura do nosso contato com o próximo. O contacto é agora sinonimo de contágio. Mas Agamben, coloca Jean-Luc Nancy na sua réplica, não se dá conta que isso já passou: a exceção era já a regra num mundo como o nosso, onde o tratamento da informação e as interconexões técnicas alcançam uma intensidade quase ilimitada. Os governos limitam-se a executar um estado de exceção e o isolamento que já sofríamos. Com isto concorda Paul B. Preciado: vivemos na “prisão branda”, que agora se põe relevo pelo facto de o domicílio particular se ter convertido no local de teletrabalho, quer dizer, a sede do teleconsumo – que em bom rigor já era como a sede do ócio – e da teleprodução.
No entanto, outros pensadores assinalaram que este vírus, paradoxalmente, permite voltar a pensar e recuperar o comum. Primeiro, no sentido mais político que diz respeito aos desafios do futuro: Slavoj Zizek, a estrela pop da filosofia, nesta ocasião o segundo a pronunciar-se depois de Agamben, assinalava que este vírus poderia significar a evidência de que devemos pensar “uma sociedade alternativa”, mais além do Estado-nação e a partir da solidariedade e da cooperação global. Bruno Latour, por seu lado, apontava que esta crise, é, ou deve ser, só um ensaio do desafio real que enfrentamos: a mudança climática. É por demais evidente a enorme repercussão que a pandemia vai ter sobre a economia. Adam Tooze sublinha o desgaste que isto supõe para o dogma neoliberal: agora é claro que o livre mercado não pode ser já o organizador da vida social e os governos e instituições financeiras, outrora defensores da austeridade, pedem já a intervenção e política fiscais e monetárias expansivas. Judith Butler também confia que esta pandemia evidencia os “limites do capitalismo”. Outros, como de novo Nancy, ao falar do “comunovírus” refletem sobre a comunidade. Catherine Malabou, naquele que é provavelmente o texto mais belo que se escreveu durante a quarentena, resgata uma paisagem de Rousseau a propósito do seu confinamento na epidemia de 1743 e fala-nos da sua “quarentena redobrada”, ou a sua necessidade de isolar-se do isolamento coletivo, numa solidão que seja ao mesmo condição para a troca com o outro.
O que nos diz isto tudo? Parece que, em certas ocasiões, emerge uma fissura, um desequilíbrio que sacode e pára o normal funcionamento das coisas: um elemento singular, por assim dizer, que não só perturba o curso normal dos acontecimentos mas que ao mesmo tempo deixa ver que se calhar este não era tão “normal”. Assim, por exemplo, disse Adorno, o fascismo “passa a fatura” da pretensão de universalidade e igualdade na sociedade capitalista: representa abertamente, concentradas, a desigualdade e a violência que já formava parte não reconhecida da sociedade de mercado. A este elemento singular que desmascara o normal e permite detetar o que implicitamente é, Freud chamou de “sintoma”. Se o fascismo passa a fatura à razão burguesa, a covid-19 passa a fatura à nossa sociedade neoliberal. Este vírus é o sintoma que nos revela a sociedade que (não) temos.
Oxalá este vírus seja a oportunidade de voltar a demorar-nos nos indivíduos e suas necessidades para reconstruir esse tecido a partir da “paixão comum” de atuar juntos.
“(Não) ter sociedade” é a ferida permanente na que vivemos desde a Modernidade. Perdeu-se a comunidade arcaica substancial e não vai voltar; mas um mercado, isto é, uma soma de indivíduos atomizados como peças de um “aparelho de relojoaria” – Schiller –, não basta. Esquecer isto, como pretende a sociedade neoliberal, só significa que estalará por outro lado, como vemos com os populismos reacionários. Seria necessário reconstruir um laço social, mas a partir do irrenunciável da liberdade individual e da autonomia.
Um velho Marx em 1875 dizia, para alguns surpreendentemente, que a sociedade do futuro iria recuperar a verdadeira individualidade, a das capacidades e das necessidades. Oxalá este vírus seja a oportunidade de voltar a demorar-nos nos indivíduos e nas suas necessidades, mas para reconstruir esse tecido a partir da “paixão comum”, dizia Tocqueville, de atuar juntos.
Clara Ramas é professora de Filosofia na Universidade de Saragoça.
Texto publicado no Cuarto Poder a 15 de abril de 2020. Tradução para para o Esquerda.net de Diego Garcia.