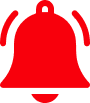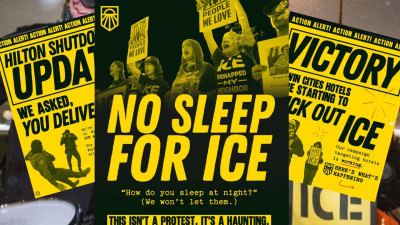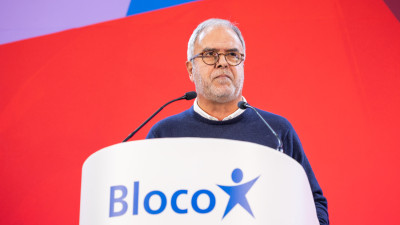O golpe de 1964 foi um acontecimento central na história do Brasil, colocando em cena uma articulação burguesa e militar apoiada pelo imperialismo para esmagar as lutas e organizações dos trabalhadores. Esse fato deve ser permanente estudado e analisado em suas contradições e seus desdobramentos para a sociedade brasileira.
O golpe, ocorrido em 1º de abril de 1964, derrubou o governo de João Goulart, que havia sido eleito vice-presidente defendendo as chamadas “reformas de base”. Jango, como era conhecido, assumiu a presidência após a renúncia do presidente Jânio Quadros, em setembro de 1961.
As “reformas de base” eram um conjunto de medidas que tinham como objetivo reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas. Entre as principais reformas estavam a agrária, a urbana, a bancária, a tributária, a eleitoral, a do estatuto do capital estrangeiro e a universitária. Eram propostas de reforma do capitalismo dentro de uma perspectiva nacionalista. No Comício da Central, em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, João Goulart assim explicava:
“O caminho das reformas é o caminho do progresso e da paz social. Reformar, trabalhadores, é solucionar pacificamente as contradições de uma ordem econômica e jurídica superada, inteiramente superada pela realidade dos momentos em que vivemos”.1
Contudo, a burguesia associada ao imperialismo não estava disposta a ceder e pagar o preço que propunha Goulart. O programa defendido por Jango, contraditoriamente, apesar de seus limites, se chocava com os interesses da burguesia e do imperialismo, sendo considerado uma declaração de guerra pelas classes dominantes. Com isso, ainda que se propondo a trazer melhorias no capitalismo, as reformas de base, ao mobilizar os trabalhadores e se enfrentar com os interesses das classes dominantes, apontava necessariamente para uma situação de ruptura com o sistema vigente.
Contudo, a maior parte da esquerda não enxergava nas reformas de base esse potencial de ruptura com a ordem capitalista. O Partido Comunista Brasileiro (PCB), maior organização da esquerda na época, dentro de sua perspectiva de “revolução por etapas” e de que no Brasil ainda existia um modo de produção com características semifeudais, apontava um caráter estratégico para as reformas de base. Para o stalinismo, a conquista das reformas de base era o objetivo e não a organização dos trabalhadores no sentido da luta contra o capitalismo. Luís Carlos Prestes, principal liderança do partido, afirmava em março de 1964, depois do Comício da Central:
“[...] lutar pelo socialismo é lutar pela vitória da revolução nacional e democrática e acabar com os obstáculos que impedem o progresso de nosso país, é lutar pela expulsão de nossa terra dos monopólios imperialistas, é lutar pela revolução agrária. Temos consciência que é assim que estamos lutando pelo socialismo”.2
Essa era a lógica do acúmulo de forças, em que as conquista das reformas poderia levar de forma pacífica ao socialismo. Seria preciso fazer uma revolução burguesa que consolidasse o Brasil como nação capitalista e, em uma etapa posterior, pensar na possibilidade de socialismo.
Contudo, as elaborações stalinistas não condiziam mais com a realidade concreta, afinal desconsiderava tanto a dinâmica da economia imperialista em âmbito internacional como o desenvolvimento econômico do próprio Brasil. Na primeira metade do século XX, ainda que sem fazer uma revolução burguesa aos moldes dos países europeus, o Estado brasileiro cumpriu o papel de fomentar a industrialização e diversificar os diferentes ramos da economia. Esse desenvolvimento foi determinado pelo
“[...] grau de avanço relativo e de potencialidades da economia capitalista no Brasil, que podia passar, de um momento para o outro, por um amplo e profundo processo de absorção de práticas financeiras, de produção industrial e de consumo inerentes ao capitalismo monopolista”.3
No Brasil da década de 1960 conviviam formas de produção das mais diversas, com desigualdades regionais e com ramos da economia atrasados ao lado de uma indústria com setores avançados. Essas disparidades marcaram o desenvolvimento econômico e social. Contudo, essa análise não era nenhuma novidade. Desde a década de 1930 os trotskistas chamavam a atenção para essa situação:
“O problema do desenvolvimento desigual do capitalismo no Brasil não se traduz apenas pela diversidade das zonas geográficas, pelo agigantamento maior de um estado em relação a outro, mas já se faz sentir dentro do próprio campo da produção, entre um ramo produtivo e outro”.4
Como parte do desenvolvimento desigual e combinado, havia tensões entre as próprias classes dominantes que poderiam levar a choques, ainda que pontuais, afetando os interesses imperialistas. O golpe foi o caminho trilhado pelas classes dominantes, tentando resolver essas tensões e desenvolver uma política de econômica atrelada ao imperialismo. Portanto, com a vitória do golpe, se consolidou um desenvolvimento econômico subordinado “aos centros estrangeiros de economia mundial e praticamente extorsivo quanto à massa da população pobre e trabalhadora”.5
Na burguesia, ainda que existissem setores nacionalistas, havia o compromisso majoritário com um projeto de nação atrelado aos interesses do imperialismo, no qual a economia brasileira estaria dominada por empresas estrangeiras. Esse projeto era defendido abertamente pela burguesia, como na declaração da FIESP, a mais importante federação industrial do país, em novembro de 1961, quando afirmava “que a taxa de formação de capitais nacionais é reduzida e, portanto, devemos incrementá-la com recurso de fora”.6 Pode-se afirmar, nos termos apontados por Mario Pedrosa, que a ditadura veio “recolocar os interesses do imperialismo no cerne do esforço para vencer a crise de crescimento das forças produtivas”.7
Nesse contexto, para os militares, colocava-se no horizonte a defesa da “segurança nacional”, que, em âmbito interno, estaria ameaçada por João Goulart, seus apoiadores e pelos partidos de esquerda. No Exército, a maioria dos oficiais tinha se formado em meio ao combate contra o PCB no contexto de Guerra Fria. Um manifesto assinado por membros da cúpula militar em janeiro de 1963 afirmava que “o governo está violando a constituição permitindo que o comunismo ilegal desenvolva livremente sua atividade revolucionária e nitidamente contrária à carta magna do País”.8
Nesse período, havia mobilizações de trabalhadores em diferentes categorias, nas quais atuavam trabalhistas e comunistas e, mesmo no interior das Forças Armadas, um setor defendia um projeto nacionalista. Em 1963, camponeses e operários urbanos estavam mobilizados, reivindicando as reformas de base. No mesmo ano, em setembro, ocorreu a chamada Revolta dos Sargentos. Os sargentos, depois de terem sido proibidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de exercer cargos no Legislativo, ocuparam prédios governamentais em Brasília, sendo rapidamente contidos. Como nenhuma ação punitiva foi tomada por Jango, transpareceu uma postura de impunidade na visão de segmentos das Forças Armadas.
Nos primeiros meses de 1964, a situação de instabilidade política se agravou, com o descontentamento da burguesia diante da instabilidade política e a ameaça de realização das medidas previstas nas reformas de base. O setor majoritário entre os militares, municiado pelo imperialismo, temia que o projeto nacionalista poderia significar um primeiro passo para a transição ao socialismo. Esse tipo de temor se materializava na resistência por parte dos setores conservadores da sociedade. Em documento que circulava na mesma época, às vésperas do golpe, afirmava-se que
“[...] se não acautelarmos, se não adotarmos medidas severas para impedir o triunfo da Guerra Revolucionária contra nós lançada, dentro em pouco a nossa Pátria se verá a braços com uma revolução de consequências imprevisíveis, capaz de quebrar a unidade nacional e de destruir o inestimável patrimônio que herdamos das gerações passadas”.9
O fantasma da Revolução Cubana, onde uma direção nacionalista foi empurrada pela mobilização dos trabalhadores para medidas de expropriação da burguesia e de enfrentamento com o imperialismo, pairava na situação política. O apoio do PCB ao governo João Goulart e o fantasma do comunismo colocavam os militares diante da necessidade de garantir a defesa da ordem burguesa e do alinhamento com os Estados Unidos. Na sua posse como presidente, em abril de 1964, o general Humberto Castelo Branco se referia ao golpe como um “remédio para os malefícios da extrema-esquerda”.10
Diante da vitória do golpe, civis e militares comprometidos com o regime ditatorial procuraram impulsionaram um projeto de desenvolvimento marcado pela repressão e pelo maior atrelamento ao imperialismo. Aa esquerda se viu reprimida pelo novo regime e em crise diante do desastre teórico e político da maioria de suas análises. As diferentes organizações políticas até então existentes passaram por um processo de fragmentação. PCB, PCdoB, Organização Revolucionária Marxista Política Operária (POLOP) e mesmo o pequeno Partido Operário Revolucionário (POR), de influência trotskista, sofreram com cisões das mais diversas. Contudo, mesmo diante desse processo de cisões e críticas, poucas organizações, sejam as já existentes, sejam aquelas que surgiram depois do golpe, fizeram um efetivo balanço sobre as razões da derrota de 1964.
O PCB continuou a apontar que o centro da política deveria ser a manutenção da unidade com a burguesia. Em seu balanço do golpe, o partido chegou a defender que teria tido uma postura sectária ao exigir de João Goulart mais do que seria possível a um governo nacionalista naquela conjuntura. Em resolução do congresso realizado em 1967, o PCB afirmava que o partido teria deixado
“[...] de lado a necessidade de formular soluções concretas para as questões colocadas na ordem do dia, e apresentar ao governo e às massas alternativas viáveis que contribuíssem para o encaminhamento dos problemas e avanços do movimento nacionalista e democrático”.11
Portanto, segundo a resolução, teria faltado ao PCB ser ainda mais parceiro da governabilidade de João Goulart. O desdobramento político desse balanço seria o de, durante a ditadura, defender uma frente “bem mais ampla do que era aquela que tínhamos em mira antes do golpe”, com a participação não apenas da “burguesia nacional”, mas até mesmo de “outros setores das classes dominantes, cujos interesses são contrariados pela política do governo ditatorial”. 12
Durante a ditadura, com exceção de alguns pequenos grupos trotskistas, a esquerda não defendeu a luta autônoma das organizações dos trabalhadores em relação à burguesia. Em 1975, o PCB afirmava que, na luta contra a ditadura,
“[...] os comunistas consideram necessário aglutinar todas as forças que, em maior ou menor grau, estão em contradição com o regime, incluindo não só o MDB, a Igreja e a burguesia não-monopolista, mas também setores das FFAA, da ARENA e até mesmo de alguns representantes dos monopólios, descontentes com o caráter fascista assumido pelo regime”.13
Ou seja, a frente proposta pelo PCB incluía, além da oposição institucional, setores do partido governista e até mesmo frações da burguesia ligadas ao imperialismo que tivessem alguma divergência pontual com a ditadura. Essa resolução foi aprovada pela direção do PCB quando o movimento operário e de estudantes começava a esboçar mobilizações contra a ditadura. Ou seja, o PCB estava na contramão da luta contra a ditadura.
Como parte das lutas em curso, se colocava a necessidade de organizar uma direção política para os trabalhadores. Esse processo levou à construção do Partido dos Trabalhadores (PT), como direção política, e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), como organização sindical. O PT, criado a partir do impulso das greves e luta dos trabalhadores e da juventude, era expressão da necessidade de independência de classes. Uma organização que integrou o partido dizia na época de fundação do PT:
“Rompendo com décadas de domínio stalinista no interior do movimento de massa que vai surgir o Partido dos Trabalhadores, respondendo a uma necessidade objetiva que o movimento operário colocava de se organizar no seu próprio terreno, sem patrões, independente da burguesia e de seu Estado”.14
Esse período, que marcou o início da derrocada da ditadura, significou o encerramento do ciclo político iniciado com a vitória de civis e militares golpistas em 1964. O processo de transição, lento e gradual, como queriam os ditadores, acabou por não derrubar as instituições burguesas, mas por transformá-las sem que se colocasse em risco o sistema econômico. O regime de classes de exploração dos trabalhadores de manteve, apenas mudando a feição das instituições burguesas.
Depois de 1964, durante duas décadas, os militares encabeçaram um projeto de desenvolvimento capitalista marcado pela repressão e pela subserviência ao imperialismo. O processo que levou à derrota dos trabalhadores e à vitória do golpe mostrou a necessidade da organização independente dos explorados, o que acabou acontecendo apenas depois da reorganização do movimento operário ocorrida na década de 1970. Contudo, a despeito das lutas travadas contra a ditadura, o capitalismo segue vigente e aos trabalhadores se coloca a necessidade de organização e de mobilização por seus direitos e pela transformação da sociedade.
Michel Goulart da Silva é historiador doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Notas:
1 João Goulart. Discurso no comício da Central. In: Carlos Fico. Além do golpe. Rio de Janeiro. Record, 2004, p. 286.
2 Novos Rumos, n. 264, 20-26 mar. 1964, p. 3.
3 FERNANDES, Florestan. Revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 5ª ed. São Paulo: Globo, 2005, p. 253.
4 PEDROSA, Mario. A situação nacional. In: ABRAMO, Fúlvio; KAREPOVS, Dainis (org.). Na contracorrente da história: documentos do trotskismo brasileiro (1930-1940). São Paulo: Editora Sundermann, 2015, p. 297-298.
5 FERNANDES, Florestan. Poder e contrapoder na América Latina. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 106.
6 FIESP. Posição sobre o capital estrangeiro. In: Carlos Fico. Além do golpe. Rio de Janeiro. Record, 2004, p. 234.
7 PEDROSA, Mario. A opção brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 189.
8 A Revolução de 31 de março. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1966, p. 6.
9 BRASIL, Pedro. Livro branco sobre a guerra revolucionária no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1964, p. p. 27.
10 A Revolução de 31 de março. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1966, p. 33.