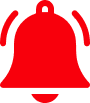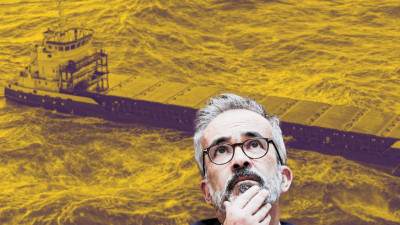A MarxFem International Conference este ano acontece no Porto, em Portugal. Começa já amanhã, com painéis, sessões públicas e plenários para discutir e pensar o feminismo marxista com o mote "Descolonizar corpos, territórios e práticas". Em entrevista ao Esquerda.net, Andrea Peniche e Kitty Furtado, da organização do evento, falam sobre a importância desse diálogo.
O mote desta edição é “Descolonizar corpos, territórios e práticas”. Porque é que é particularmente relevante para este momento?
Uma resposta mais completa a essa pergunta poderá ser dada durante a própria Conferência. Porém, vamos tentar resumir. Pensamos a descolonização enquanto um processo em curso, porque, mais do que uma forma de organização governamental, o colonialismo instituiu formas de poder de saber e de ser que moldaram a Modernidade e que persistem nas relações geopolíticas e também nas relações interpessoais.
Talvez um dos exemplos mais gritantes de colonialismo atual seja o da Palestina, mas, na realidade, ele está presente nas relações de poder Norte-Sul, nas instituições, na forma como entendemos a própria democracia, as instituições sociais, o género, etc. Não é demais lembrar que o colonialismo funciona como uma máquina de produção binária, criando e impondo hierarquias rígidas baseadas em categorias opostas, como "nós" e "eles", "civilizado" e "selvagem", e classificando e explorando as pessoas com base em noções como raça e género. Isto permite a exploração económica através da especialização da produção colonial e da subordinação de grupos raciais a trabalhos específicos, bem como a dominação social e cultural através da imposição de padrões binários de género, como o masculino/feminino, que existem para justificar as hierarquias e controlar as populações.
É importante dizer que quando Frantz Fanon falou em descolonização das mentes, referia-se ao início do processo de descolonização, e não ao seu fim último. Contudo, essa descolonização mental não foi levada a cabo e, portanto, a insofismável tríade racismo, capitalismo e patriarcado continua a articular a forma como o poder circula no mundo. Hoje percebemos que o colonialismo nunca foi debelado, apenas se atualizou. E, por isso, é cada vez mais urgente ingressar na luta pela descolonização. Esta proposta vai além da crítica ao eurocentrismo, ao procurar formular novas formas de pensar e perceber o mundo que sejam não-eurocêntricas, valorizando conhecimentos de outras geografias, como da América Latina e de África.
Numa palavra, o objetivo não é apenas o fim do colonialismo enquanto sistema político, mas também o desmantelamento daquilo a que muitos autores chamam a Colonialidade, que consiste na persistência das estruturas de poder e dominação colonial na sociedade contemporânea. É preciso acabar com a era colonial para que um mundo alternativo possa emergir. Esta conferência pretende contribuir para essa luta.
Quais são os destaques deste programa?
Essa pergunta é muito difícil. Sabemos que não parece, mas é, até porque uma das ideias que presidiu à forma como organizámos a Conferência foi a de não pactuar com as hierarquias coloniais. Nesta conferência não há keynotes individuais, embora muitas mulheres que nela participam pudessem ter esse estatuto. Privilegiámos as mesas-redondas, as rodas de conversa, numa palavra, o debate entre todas, o que implica ter ativistas e académicas sénior em conversa horizontal com jovens estudantes. Pensamos que este é um aspeto a destacar. Para tentar responder mais objetivamente à pergunta, destacamos as sessões plenárias e a sessão pública, por serem momentos em que estamos (quase) todas juntas, isto é, em que as atividades a decorrerem paralelamente são em menor número.
A Conferência abre com um painel intitulado “De Marx a um feminismo descolonial marxista”, com Nadia De Mond, Catarina Isabel Martins e João Manuel de Oliveira, e encerra este primeiro dia com a sessão pública “Descolonizar os corpos, os territórios e as práticas”, com a presença da académica e ativista estadunidense Ruth Wilson Gilmore que se tem dedicado ao abolicionismo como prática e ensaio para um mundo alternativo, com académica e ativista pela Palestina Dima Mohamed e também com Kitty Furtado que estuda as contravisualidades negras em Portugal. No segundo dia abrimos a Conferência com a mesa “A descolonização não é uma metáfora”, com Sara Araújo, Amanda Hurtado Garcéz, Sílvia Roque e Rita Alsalaq, e fechamos com a plenária “Corpos e trabalho”, em que participam Andrea Peniche, Ankica Čakardić, Camila Lobo e uma ativista da Ciocia Wienia, organização que apoia mulheres que buscam interromper a gravidez em segurança, independentemente da sua origem, orientação sexual ou situação legal no país. Pelo meio, sessões paralelas, oficinas, rodas de conversa, filmes, etc., que nos parecem igualmente estimulantes.
Há uma multiplicidade de formatos, painéis, oficinas, mesas redondas. Como se podem caracterizar as participantes na Conferência?
Sim, decidimos abrir a Conferência a uma multiplicidade de formatos, de modo a podermos acolher o máximo possível de metodologias e linguagens ativistas. Obviamente que estamos limitadas pelas características do espaço físico, mas acreditamos que esta será uma experiência bem-sucedida e, por isso, para repetir e melhorar futuramente. As participantes são muito diversas. E vou usar o feminino porque a esmagadora maioria das participantes são mulheres e pessoas que se identificam como mulheres.
Ao longo de três dias, teremos cerca de 100 oradoras, entre investigadoras, ativistas e artistas, oriundas de, aproximadamente, 40 países (África do Sul; Alemanha; Áustria; Bolívia; Brasil; Chéquia; Chile; Colômbia; Croácia; Equador; Eslovénia; Espanha; Estados Unidos da América; Finlândia; França; Grécia; Hungria; Índia; Irão; Irlanda; Itália; Lituânia; Moldávia; México; País Basco; Palestina; Polónia; Porto Rico; Portugal; Reino Unido; Rússia; Sérvia; Suécia; Suíça; Turquia e Ucrânia), em diálogo com as cerca de 300 participantes, também elas de origens geográficas diversas, mas com uma forte presença portuguesa.
Podemos, no entanto, sinalizar desde já uma ausência e uma dificuldade. Recebemos apenas uma candidatura, que foi aprovada, que abordava o tema do capacitismo. Todavia, a sua oradora cancelou a participação por dificuldades de saúde que a impedem de viajar. Ou seja, este tema vai estar ausente da Conferência, o que nos pesa verdadeiramente. A esta ausência soma-se a dificuldade de tornarmos o espaço da Conferência acessível para pessoas com dificuldades de mobilidade. Procurámos resolver o que estava ao nosso alcance, porque o edifício não responde a esse problema, e reconhecemos esta dificuldade como uma das mais difíceis de dar resposta: pela inexistência de edifícios adaptados e pela dificuldade em criar soluções temporárias.
Como é que esta conferência lida com tensões internas dentro do próprio feminismo?
Essa questão é curiosa! Na verdade, esta Conferência, porque marxista, feminista e descolonial, é parte da construção da corrente anticapitalista do movimento feminista internacional e que queremos internacionalista. Teremos debates onde essa tensão e confronto, sobretudo com o feminismo liberal, mas também com o femonacionalismo, por exemplo, serão diretamente abordadas, numa perspetiva crítica e de superação. Mas a Conferência não é apenas um espaço de crítica e demarcação, é também – e sobretudo - um espaço de debate e construção de propostas e utopias tangíveis. Consideramos que as desigualdades têm raízes estruturais e sistémicas e, por isso, não consideramos que o sistema capitalista-patriarcal-colonial seja reformável, pelo contrário, consideramos que ele é em si próprio fonte e origem das desigualdades. Nesse sentido, o nosso debate é sobre a superação desse sistema e não sobre a sua reforma ou sobre como tornar mistos os espaços e os mecanismos da dominação.
Esperas que as discussões se traduzam em organização pós-Conferência?
Tivemos um debate sobre essa questão durante o processo de preparação da Conferência e temos expectativas diversas. Esperamos que possam surgir desta Conferência redes de contactos, e até intervenção comum, mesmo que de forma inorgânica. Ou seja, não é um objetivo explícito da Conferência, mas é possível que ela seja um espaço também para isso. Há vários temas, como a questão do trabalho doméstico e dos cuidados, os direitos sexuais e reprodutivos e os direitos na menopausa, por exemplo, que são parte da agenda de muitas ativistas e académicas de várias partes do mundo que se vão encontrar nesta Conferência. Seria interessante, por isso, criar redes ativistas de contacto, para acompanharmos o trabalho e o debate umas das outras, para aprendermos umas com as outras e para nos reforçamos mutuamente. No entanto, não faz parte dos objetivos da Conferência que cada uma de nós saia com (mais) uma carga de trabalhos para encaixar na sua vida. O que procuramos é que cada uma saia enriquecida pelos debates e que, mais organizadamente ou menos organizadamente, lance à terra as sementes que daqui levou.
Aquilo que ativamente quisemos evitar foi que a Conferência impusesse um modo de organização das lutas. Somos muito diversas, vimos e atuamos em contextos muito diferentes e, por isso, a nossa regra é respeitarmos, aprendermos e confiarmos umas nas outras. Estamos certas que, independentemente do modo como isso acontecer, esta Conferência será para todas um momento importante que construímos e vivemos em comum.