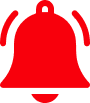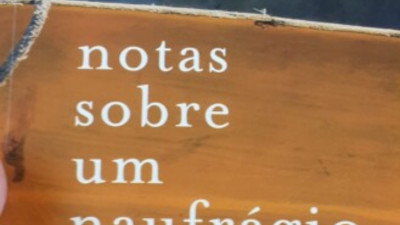A conversa que se impunha. Pelo menos, desde a observação do movimento lento da personagem de Francisco/Nicolau nas curtas de João Rosa, que são pequenos contos urbanos de adolescência e juventude. Admitamo-lo, são um ótimo aperitivo para a descoberta de A Vida Luminosa. A conversa que segue foi ao sabor (e à deriva) daquilo que as imagens nos sugerem. Antes de começar a entrevista havia já a ideia firme de que o cinema do João Rosas poderia servir para responder àquela pergunta ontológica sobre essa coisa estranha chamada ‘cinema português’, com que tantos se afadigam. Apetece até dizer, com a devida simplicidade: é isto, pá! Rosas mostrou, ao longo de quatro filmes, um sem-número de histórias possíveis que circulam pelas ruas da cidade, nos piscam os olhos, seduzem e seguem viagem. A palavra ‘orgânico’ é seguramente uma das palavras-chave desta entrevista. Talvez se perceba porquê.
Devo dizer que vi (e revi) as tuas três curtas – Entrecampos (2013), Maria do Mar (2015) e Catavento (2020) – antes de A Vida Luminosa. E foi ótimo para ter esta ideia de perspetiva, das várias coisas que se prolongam. Será o cinema, será a própria vida? Talvez o tempo que passa…
Sim, tens razão. A Vida Luminosa é um filme independente. Mas, concordo, aqui um elemento do tempo que se prolonga. Talvez, o cinema como uma maneira de trabalhar o tempo. Desde logo, a minha relação com Lisboa, mas também, por outro lado, como algumas pessoas passam de filme para filme. Em particular o Francisco Melo, o protagonista que vai ‘vivendo’ cada um dos filmes…
Esta continuação foi intencional ou acabou por se impor?…
Na verdade, quando comecei com o Entrecampos não tinha esta ideia de tetralogia. Até porque quando se filma dificilmente se consegue ter uma visão de futuro.
Ainda assim os sinais estão lá. E são recorrentes nos teus filmes. Se calhar até como elemento de (des)orientação…
Sim, talvez. Entrecampos nasce do desejo de filmar a cidade e de aprender a filmá-la de uma maneira orgânica, em diálogo com a narrativa e com os outros personagens. De certa maneira, a ideia da cidade-personagem. Só que não havia uma qualquer ideia da continuidade. Tanto que o Francisco nem sequer era protagonista. Ao preparar Maria do Mar – uma ideia que tinha em paralelo a Entrecampos – pensei em desenvolver a descoberta da sexualidade, do desejo. Esta visão de um corpo nu, mais velho. Calhou porque a idade do protagonista correspondia à idade do Francisco. E tive vontade de voltar a trabalhar com ele e a explorar a minha própria relação com a cidade.
Será que o que dizes sobre as cidades – o que se abre e o que se fecha, o que é novo e o que é velho e morre – se pode aplicar também ao teu documentário A Morte de uma Cidade?
É verdade, acaba por se encaixar nessa visão. Não só da cidade que move, se calhar até aquela que cancela. Ainda que esse exercício não tenha nada a ver com estes filmes. Ou com este filme mais longo. Ainda que reflita esse lado, sem dúvida. Aliás, algo que se vai alterando a partir do momento em que conheço as pessoas que trabalham no estaleiro. É um movimento de aproximação, mas num espaço muito peculiar que é o estaleiro.
Quando falaste em Maria do Mar e apeteceu-me logo perguntar pela referência cinéfila, mais ou menos óbvia, do filme do Leitão de Barros. Concordas?
O Maria do Mar é mais do que uma homenagem cinéfila, partiu do nome da protagonista. Eu sabia que existia esse filme, mas o texto foi escrito a pensar naquela imagem.
Sim, e dos corpos.
Exato. Tinha a ver onde o filme se passava e onde acabava, na praia. Um imaginário de verão, sem querer remeter cinefilamente para o filme do Leitão de Barros. Embora, claro, haja essa ligação ao filme. Ao mesmo tempo, é algo que faz parte da minha vida, da minha vivência na cidade. Uma preocupação que eu tenho, nomeadamente a partir de Catavento. Maria do Mar não é em Lisboa, mas mantém uma coerência geográfica…

É bonito ver no teu novo filme o espaço alargar-se à Cinemateca, como um ponto de encontro e de despertar de paixões…
É verdade. Isso está ligado a relações de amizade, a relações amorosas. O ponto de partida do filme era também um bocadinho esse. A Cinemateca é um lugar que está ligado ao percurso que segui, onde descobri muitos filmes de que gosto, onde aprendi muita coisa, onde fiz amigos. Isso parecia-me importante. Sobretudo, hoje em dia que se fala tantas vezes na morte do cinema, das pessoas que já não vão ao cinema. Há um lado político que me interessa também – a ideia da sala como lugar de partilha, de comunhão e de experiência conjunta de ver um filme.
E porquê a escolha do filme do Stroheim (Wedding March, Marcha Nupcial, de 1928)?
Mais do que a questão cinéfila do Stroheim gostava da ideia da partilha do espaço. Gosto desse filme, sobretudo pela relação que as personagens estabelecem através do olhar. Interessava-me construir a cena em torno da ideia do olhar. Mas independentemente da cinefilia e das outras referências, o que tento fazer sempre é apresentar tudo de forma orgânica. Tal como o trabalho técnico, sejam travelings, panorâmicas…
Na verdade, tudo parece fluído e leve. Imagino que a découpage, bem como o trabalho com os atores, seja demorado.
Há um trabalho muito demorado, sobretudo nos ensaios. Enfim, todas as fases são demoradas. É um trabalho que vai e vem de diálogos. Tudo parte de um casting muito longo, em que me interessa sobretudo ficar a conhecer as pessoas. É um pouco a partir deste primeiro encontro que o guião ganha forma.

Tenho curiosidade em saber como se deu a tua descoberta do cinema e de que forma passou ou não por por algum percurso hesitante, como o do Nicolau. De certa forma, para introduzir esta ideia de continuidade com o Francisco, como uma espécie de Antoine Doinel, do Truffaut…
Eu gosto muito da série de filmes do Truffaut com o Antoine Doinel e também do trabalho do Jean-Pierre Léaud. Já agora, há uma outra referência com o Jean-Pierre Léaud que ‘roubei’ a uma curta do Jean Eustache, O Pai Natal Tem os Olhos Azuis (Le père Noël a les yeux bleus, 1967), em que ele também está à frente de uma loja vestido de Pai Natal. Mas o que me levou a construir esta continuidade foi a relação com o Francisco, não a referência cinéfila.
Percebe-se quase uma relação de cumplicidade entre o Francisco e o João Rosas, é isso?
Sim, mas não só o Francisco. Há um bocadinho de mim em todas as personagens. Mas há ali um lado muito do Francisco. Na verdade, todas as personagens nascem um pouco disto. De elementos meus e elementos que as próprias pessoas trazem. Por exemplo, no caso de Maria do Mar é a magia do Francisco; depois foi a música, uma coisa que ele começou a tocar. E até a banda onde ele próprio toca (Quase Nicolau) são coisas que cada personagem traz. Coisas suas e minhas.
Este é um filme que sinaliza muito bem a nossa cidade, seja para nos orientar. Ou desorientar…
Sim (risos). É muito importante para mim que estes pontos sejam unidos de forma orgânica. Não vou filmar no Marquês de Pombal porque gosto muito… Não. Posso querer filmar no cemitério, porque gosto muito daquele cemitério, porque tem um significado para mim, pois parte da minha história também está ligada àquele cemitério.
Quando começaste a fazer cinema, já sabias que era o que querias fazer?
Eu ainda hoje tenho dúvidas, como diz a música no início do filme: “de todas as coisas certas, a mais certa e sabida é a dúvida!” Ou o Manel, a minha personagem no filme, quando fiz: “será que deveria ser escritor?” Mas o cinema dá-me coisas que a escrita não daria, ou que não consegui através da escrita. Foi um pouco isso que me levou ao cinema. Lembro-me de quando vi pela primeira vez o Caro Diário, do Nanni Moretti, e ele diz “que belo seria ter um filme só com fachadas, só com panorâmicas de fachadas”. Depois a descoberta do neorrealismo, daquelas cidades italianas em construção, os descampados. Imagens que remetiam para a minha própria infância em Carnide, que é também o bairro do Nicolau. Nos anos 80 era um bairro com traços rurais, muitas quintas. A minha infância foi passada aí…

Há um outro elemento no filme que é quase um universo à parte: a (re)descoberta do amor.
Pois, é a dúvida, essa coisa em construção. Também é quase um edifício. Mas acaba por dar consistência à história, ao elemento narrativo. Eu parto sempre de um estado de transição, de dúvidas ligada a certas idades. O primeiro amor, sair de casa, reformular as amizades, as novas relações que se estabelecem. A amizade e o amor estão no centro dessas relações. Interessava-me explorar isso.
O casting do Nicolau foi evidente para o realizador?
O casting do Nicolau foi marcante. Ele tinha, na altura, onze anos. O que me interessava eram crianças normais. E o Francisco era uma dessas crianças, mas com uma chama interior. Tal como a Francisca (Alarcão). Foi isso que me atraiu neles. Não as capacidades de ator. Isso trabalhámos depois.
Percebe-se que esta experiência de transição o marcou.
Ele tomou decisões que o levaram a enriquecer a sua própria vida. Isso fez parte do processo. Interessava-me colocar o Francisco (ou o Nicolau) num lugar de escuta. Mais do que a intervir. E rodeado por estas mulheres. Na verdade, todos eles estão numa fase de transição. Mais do que estar preso ao fantasma do primeiro amor. Por muitas mulheres que ele tenha à volta, nunca vê isso como uma possibilidade amorosa.
A abordagem do teu cinema parece descomplicar muitas coisas, tornando-as parte da vida. Talvez isso pareça que é mais simples…
Mas não foi (risos). O filme foi rodado em 2023, há precisamente dois anos. Exatamente na altura dos santos populares. Mas antes já havia muito trabalho feito: guião, casting, repérage. O trabalho que mais me interessa é a depuração. O que quero é que as pessoas sintam quando estão a ver o filme. Interessa-me menos que estejam a pensar.
Só para rematar. Há demasiadas pontas soltas que ficam por abordar. Talvez num próximo filme?…
Sim, mas o próximo não será com o Nicolau. Provavelmente. Mas o ponto de partida é um bocadinho o mesmo. Ou seja, esta ideia que está associada a determinadas idades, à relação com a cidade, etc. Mas vai ser como pessoas mais velhas, talvez na casa dos 40. Na crise da meia idade.
A Vida Luminosa: um (belo) conto de Primavera
Numa altura em que vêm à tona novas dúvidas sobre os passos titubeantes do nosso ‘cinema nacional’ e quando se exalta a afetividade das imagens com o público, com os críticos, os festivais, os programadores, os exibidores – eu sei lá -, vale a pena reparar em A Vida Luminosa e perceber como o cinema do João Rosas (lei aqui a entrevista) se está marimbar com esse ponto de vista ontológico, concentrando-se em devolver-nos um filme belíssimo. Apetece até dizer, em surdina, ‘por esta porta o cinema pode entrar’! E se o título até remeter (e bem) para uma afinidade rohmereana, não é por aí que o gato vai às filhoses. Há algo nessa partilha estival, nos espaços, nas conversas, nos amores que lhe fica muito bem e não carece de dívida.
A Vida Luminosa dá-nos então a ‘luz’, mas que não nos ‘ilumina’. Deseja antes passear connosco nas ruas de Lisboa, seguir mapas de geografia humana, arriscar no olhar dos outros e deixar-se levar por um sorriso. Em suma, sentir algo que que nos seja próximo. Apesar de todas as indecisões, de todas as dúvidas. Pois é isso que alimenta a narrativa, o embaraço do desejo, a paixão, vá se lá saber.
Um aviso à navegação: assumi que vi (e revi) as curtas do João Rosas antes da longa. Pois não conhecia ainda aquele primeiro olhar sobre a cidade, em Entrecampos (2013), faltava-me testemunhar o desejo corporal de Maria do Mar (2015), tal como aceitação da hesitação em Catavento (2020). E tornou-se até ponto assente de rever o filme, já depois da conversa com o João Rosas. A ideia não era simplesmente recuperar o mesmo Francisco Melo, com um certo ‘je ne sais quoi’ de Melvil Poupaud, depois dos 14-15 anos de rodagem, mas seguramente mais pelo gesto de cinema que se molda a partir de personagens, sem uma agenda definida para nos seduzir; antes inscrevendo-se nos lugares comuns de rodas de amigos e (tão bem) filmado no exterior ou em transportes públicos. Pois é nesses espaços que certas frases se dizem e têm o seu peso. E que uma câmara, quase sempre impercetível, ou com milimétricos movimentos, as testemunha, embora deixando todo o espaço para o acontecer. E olhem que não é pouco. Talvez porque fique (sempre!) no ar algo que nos faz querer manter a viagem.

Ah sim, o filme. O filme é sempre o Nicolau (Francisco Melo). Ou quase (como a sua banda Quase Nicolau). Esse garoto tornado jovem que não chegou a encontrar as certezas da vida. Vai então alimentando-se de incertezas (como tantos) e no poder do olhar. É a partir daqui e dos longos encontros com os atores que se vai escrevendo, como sublinha João Rosas na nossa entrevista. Parece fácil. Mas este é apenas o esquema (o mapa) de orientação para um filme que dança à nossa volta. Por sinal, filmado há exatamente dois anos, durante os santos populares, numa Lisboa vibrante e que apetece viver.
No fundo mais um elemento de proximidade a uma realidade que é, sim senhor, muito filmável. E que faz um vaivém curioso com os outros filmes, que depois queremos revisitar. Seja para reparar na t-shirt que transita de um filme para o outro ou o cartaz do Bowie que regressa a casa.
É então a partir dessa massa que se molda a continuação da história de Nicolau, agora a viver em casa dos pais – (o contrabaixista Bernardo Moreira e a cineasta Catarina Mourão), eles próprios com o seu imbróglio afetivo – na mó de baixo e sem grandes planos para o futuro, temperando relacionamentos inacabados com a “ressaca de um ano do último amor”. É isso que Nicolau vai confidenciando no ombro de Francisca (desde Entrecampos), acabando por se incapaz de reagir a todas as mulheres que dele se aproximam. E que cujos nomes têm de ser mencionados: são elas Cécile Matignon, Margarida Dias, Federica Balbi, Gemma Tria, Ângela Ramos e Francisca Alarcão. E talvez aqui até falte alguma ocasional… Ainda assim, Nicolau foge para a frente, navegando na tal dúvida anunciada na canção de abertura: “de todas as coisas, a mais certa, e sabida, é a dúvida”!
De qualquer forma, A Vida Luminosa (tal como todas as curtas) é também o João Rosas. Pela cumplicidade, pela projeção dos desejos e paixões. E tão bonita é a sequência na Cinemateca, com o grupo de amigos a ver Esposas Levianas, do Erich von Stroheim (1922), aliando a cinefilia ao olhar das personagens. Ou à história que cada um tiver (ou não). Talvez seja também essa a luz de que fala o título. A luz do cinema.
Ora, no meio deste percurso indeciso, Nicolau ainda contará bicicletas e acabará até por trabalhar numa papelaria e vestir-se de Pai natal. No primeiro dia de trabalho, o gerente ajuda-o com algumas dicas e ao primeiro cliente (o baterista Luís San Payo, ex-Croix Sainte) pedindo que avalie a sua compra (de 1 a 5). ‘Dou cinco’, é a resposta pronta. ‘Tanto?’, questiona o gerente. ‘Então dou zero’. E vai-se embora. Pois bem, então também dou cinco. Seguramente, não com a mesma leveza e humor, mas por tudo o que foi dito. E porque este belo conto luminoso, sobre os ‘verdes anos’ das nossas vidas, que bate certo em todas as notas. Mesmo sem desejar ser obra-prima.
Entrevista e artigo publicados em Insider.pt