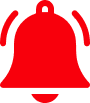Um Colóquio e um debate promovido pelo Observatório da Extrema Direita e pela CULTRA no passado dia 14, no Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa.
Questão pouco comum esta, quando é feita a académicos da História e Ciências Sociais. É, normalmente, uma pergunta feita e uma resposta dada pelo “senso comum” que lhe responde, sem grandes dúvidas que sim, a “História repete-se”.
O cientista social, em particular o historiador, está mais preparado para acentuar a singularidade dos acontecimentos irrepetíveis. É certo que uma certa historiografia estrutural se afirmou pelo estudo das continuidades e das repetências. Mas é uma historiografia mais ligada aos domínios da economia, da sociedade, da demografia e das mentalidades. De lado tem ficado sempre o campo político, ou seja, o domínio da ação humana na condução da vida política das sociedades, por natureza mais volátil e (aparentemente) irrepetível.
E, no entanto, sociólogos, historiadores, politólogos, estudam-no – refiro-me ao campo político. Para quê? Apenas para lhe mostrar as “glórias” (como se fazia antes) ou para lhe acentuar as “misérias”? Claro, dir-se-á, para compreendê-lo. Coisa que os atores dos acontecimentos tiveram dificuldade em fazer. A História (completa, “verdadeira”) de um acontecimento só é totalmente compreendida quando ele deixou de existir e de desenvolver-se nas suas diversas modalidades de implicação no “futuro”.
Fascismos e memória operativa
Ora, as ditaduras, os totalitarismos, os fascismos do séc. XX - fruto dos radicalismos de extrema-direita da “era dos fascismos” - ainda não são uma história concluída: os seus efeitos perversos persistem (na História, o que seria uma forma de persistência de efeitos irrisórios); mas persistem, muito especialmente, na memória histórica e na memória social. A sua continuidade é, desde logo, imposta pela discussão sobre os nomes que damos à “coisa” que vai surgindo através de partidos como a FN em França, o VOX em Espanha ou o CHEGA em Portugal: são “neo-fascismos” ou formas “pós-fascistas”, começam por perguntar todos os participantes do Colóquio.
Porém, esta parece ser a parte menos relevante do problema. Historiadores do “fascismo histórico”, como Enzo Traverso, Manuel Loff ou Fernando Rosas, começam por necessitar de fazer essa indagação. Mas esta é uma discussão que tem uma resposta fácil. Os novos partidos de extrema-direita europeus não são partidos fascistas. Até na medida exata em que o “fascismo histórico” é irrepetível. Nasceu nas condições históricas da crise dos anos 20/30, no período de entre-guerras. E, com raras exceções, foi superado pelos regimes democráticos dos anos 50.
Mas então onde está o cerne do debate e o interesse da resposta à pergunta feita no início? Em primeiro lugar nos sinais preocupantes que resultam das análises vindas a público pelos representantes dos partidos de extrema-direita, ou mesmo da direita clássica que lhe vai abrindo o caminho. O que está em causa, para alguns destes partidos não é só o radicalismo de esquerda (que assimilam a uma espécie de contraponto da sua pauta de valores) – o que está em causa para estes partidos é a própria democracia, ou seja, o regime que resulta da escolha livre de cidadãos livres na sua escolha. Dois exemplos de análise típica desta extrema-direita para clarificarmos o que dizemos: a “corrupção”, uma chaga social e política que as democracias se esforçam por debelar com recurso a reformas do sistema judicial, não são perversões debeláveis em democracia, porque para estas extremas-direitas, a “corrupção” é um fruto da própria democracia. Que, obviamente, desaparecerá quando, na sua lógica de apreciação, o regime não for democrático. Ou pelo menos sofra “reformas” de tal ordem que o desvirtuem enquanto representação genuína da soberania popular – como está acontecendo na Hungria. E o mesmo acontece com o sistema de trabalho/retribuição ou com o sistema de emprego. A existência de desemprego ou de salários baixos, não é uma consequência do sistema internacional/nacional de divisão/retribuição do trabalho, mas antes uma resultante da emigração e dos sistemas sociais de proteção ao desemprego que o “Estado Social” democrático criou (ou deixou ocorrer sem controlo no caso da emigração) e que modelos nacionalistas, xenófobos e restritivos em matéria de política social resolveriam de uma penada.
Em segundo lugar, depois destes sinais atuais, é preciso indagar a lógica que lhes subsiste. Poderão a História e as Ciências Sociais ser úteis neste campo? Os participantes do Colóquio mostraram que sim. Porque também na política há continuidades: na lógica que orienta os procedimentos de ascensão, expansão e implantação destas forças políticas; na forma como doseiam o seu discurso “oculto” e subversivo com propostas demagógicas e populistas; na forma como captam as camadas populares desfavorecidas; ou ainda na forma como se tornam atraentes para as classes dominantes, depois de captada a atenção popular através do voto.
Fascismo – objeto histórico e arma de combate
Manuel Loff chamará exatamente a atenção para um facto do “fascismo histórico” que lhe parece motivo de reflexão: na Itália de Mussolini, os “fasci” e todo o mundo eclético e marginal que se lhe juntou foram os responsáveis pela “fascização” das direitas clássicas, onde até aí se reviam as classes dominantes. E, por isso, estes movimentos radicais de deserdados e vencidos pela Guerra, destinados a um futuro incerto, acabaram por vingar e constituir um poder político “digno” e respeitável. Correspondeu, na sua opinião, a um movimento de renovação ideológica das direitas clássicas, simpatizantes de uma alteração que lhes pudesse garantir a derrota do socialismo em Itália. Uma espécie de terceira via, que incluía a superação da via socialista, um pouco à imagem do próprio Mussolini, um proscrito do socialismo que tinha defendido até pouco tempo atrás.
Cecília Honório insistiria na designação de uma “nova extrema-direita” para caracterizar as forças políticas que foram objeto de análise. Uma extrema-direita que optou por entrar no jogo democrático, insiste. Resta aqui talvez saber se esta não é exatamente uma “receita” clássica, aliás utilizada pelo “fascismo histórico” que, em muito casos, doseou a via eleitoral com a violência e o populismo para ascender ao poder. E para então, obtido o poder, o subverter de forma autoritária. Também aqui vale a pena confrontar o que conhecemos do “fascismo Histórico” com as “arrancadas” (menos pensadas ou anunciadoras?) destas extremas-direitas. Em Portugal ou em França, as promessas de respeito pelas regras do regime democrático são constantemente subvertidas por ameaças de subversão do sistema assim que lhes for possível.
A democracia basta-se a si própria?
Daí que a politólogos como António Costa Pinto apenas interesse a forma como os regimes democráticos vão reagir aos ataques da extrema-direita e conseguir manter um jogo eleitoral sério. O que o preocupa não é o “nome da coisa”, nem as relações com o “fascismo histórico”, mas antes o crescimento eleitoral destas forças políticas de extrema-direita. Por outras palavras, o que o preocupa é a crise de representação e a crise dos sistemas democráticos. Porém, aqui talvez devesse colocar-se a questão de saber se basta a preocupação e a crença no funcionamento do sistema político-partidário como ele existe hoje em Portugal para se auto-reformar. Poderemos imaginar o PSD – uma parte indispensável no funcionamento do sistema democrático – como incorruptível aos valores e às tendências de radicalização de direita? Pequenos sinais não deixam de ser indiciadores e motivos de preocupação. Um: nos primeiros anos pós-25 de Abril o PSD (vide o seu órgão de comunicação POVO LIVRE) e os seus líderes (incluindo Sá Carneiro) catalogavam o Estado Novo como um regime fascista. Aliás, honravam-se de ter no seu seio muitos e valorosos antifascistas. Os partidos evoluem é certo e normal. Mas será normal que o seu líder atual negue a existência de fascismo em Portugal, tout court e sem mais explicações? Não esqueçamos que a memória social é uma memória partilhada – por esquerda e por direita. E embora a direita portuguesa (mesmo a mais colocada à direita) se tenha dissociado da herança do fascismo português, as coisas mudaram, como considera Fernando Rosas, a partir dos anos 90, e muito particularmente nos últimos anos. E, por essa razão ele foi, entre todos os participantes, o que mais insistiu nas continuidades e nas relações estreitas entre o “fascismo histórico” e a radicalização atual das extremas direitas. Há, segundo ele, uma lógica de ascensão ao poder da extrema-direita que reproduz muitas das formas de ascensão das direitas dos anos 20. Na forma como buscam aliar-se, mesmo correndo o risco da descaracterização ideológica, para chegar ao poder, com vista à realização de reformas que buscam subvertê-lo; na cedência das direitas tradicionais aos valores da extrema-direita e na sua “rendição” ao autoritarismo se, através do jogo democrático, as forças sociais que os sustentam não conseguirem obter taxas de reprodução do capital com a existência do Estado Social que existe a proteger o bem estar e o emprego (mesmo que de forma magra e incompleta).
Para António Costa Pinto, designar de “fascismo” o fenómeno atual é contraproducente, mesmo que Bolsonaro, num dos seus “rasgos” fantasiosos, tenha afirmado o seu Estado como fundado sobre “Deus”, a “Pátria” e a “Família”. Ou seja, também “fascistas” como Bolsonaro se servem do catecismo fascista, à falta de ideias próprias. Para Costa Pinto, usar o termo poderá fazer algum sentido numa lógica de combate político, mas não de análise rigorosa da realidade.
Porém, terá sido, porventura, com Fernando Rosas que a análise do tema mostrou estar mais amadurecida. Insistiu na lógica económica, social e política que subjaz às duas épocas e na qual encontra muitos elos de conexão: condições históricas idênticas (em formações económico-sociais com grandes continuidades) tendem a desencadear fenómenos semelhantes.
Um elo comum entre todos os participantes aponta para aquilo que mostra ser uma preocupação para sensibilidades colocadas em campos políticos diferenciados: a crise de representação dos sistemas democráticos atuais é o maior problema hoje, aquele de onde partem as franjas sociais e eleitorais anti-sistémicas, claramente situadas no campo das extremas-direitas.