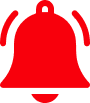Class Enemy é uma peça escrita em 1978 por Nigel Williams, situada no Reino Unido, num período de desenlace social e aumento brutal da pobreza, intensificad pela inflação derivada da crise de petróleo causada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em retaliação ao apoio ocidental a Israel durante a Guerra do Yom Keppur.
Numa sala de aula de uma escola pública, seis jovens da classe trabalhadora aguardam que chegue o novo professor, uma vez que expulsaram todos os outros. Entre a hierarquia social estabelecida entre eles e o sentimento de raiva contra uma sociedade que lhes virou as costas, vão contando histórias que ilustram as suas vidas e a crescente miséria que os rodeia. Mas o professor nunca chega.
Teresa Sobral é a atriz e encenadora que traz Class Enemy ao Portugal de 2024. Interpretou Brecht, Tchékhov, Saramago e vários outros autores, dedicando o seu trabalho de encenação a uma visão política da sociedade. Em entrevista ao Esquerda, fala sobre a atualidade do texto de Nigel Williams, a sua relação com a escola e como a peça aborda a extrema-direita e a pobreza de uma forma intemporal.
O que é que vos levou a encenar Class Enemy agora?
A proposta veio do Miguel Loureiro, programador artístico do teatro. Disse-me que gostava muito de abrir a temporada com este texto e que queria muito que fosse eu a encená-lo. E eu disse-lhe que sim - ainda não tinha lido, mas já tinha visto uma versão do José Wallenstein nos anos 80. Sabia exatamente qual era a temática e acho que infelizmente é uma temática que, apesar de terem passado 46 anos, está muito atual. A mim sempre me preocupou e enervou a questão do ensino em Portugal.
Mas a peça parte da escola para abordar a probreza como um problema social de fundo, não?
Totalmente. Eles usam a escola porque é o local que conhecem e em que podem entrar, que tem uma representatividade do poder. Ali está a autoridade. Eles usam a escola para dar um grito de revolta sobre o sistema. Mas não é um espetáculo contra a escola, é um grito de revolta contra o sistema capitalista.
Nesse sentido, há uma personagem – que é o professor – que toma o peso de representar a sociedade de forma mais geral. Representa esse sistema.
Sim, porque é a pessoa exterior que representa a autoridade. Portanto, o professor ali acaba por ter um papel em que acaba por representar tudo aquilo que eles combatem e que naquele caso, é um professor da escola. Nem sequer é o professor deles, é só uma figura da escola.
A escola é muitas vezes concebida como um elevador social, mas Class Enemy apresenta-a de forma diferente, do ponto-de-vista dos desajustados.
Pois, supostamente devia ser [um elevador social]. Na prática, isso não existe. As escolas onde eu tive o prazer de dar aulas de teatro - que é um privilégio, porque estamos sempre um bocadinho à margem do sistema - deram para observar que isso não é uma realidade. Acabam muitas vezes por ser continuações dos bairros sociais, difíceis de fazer um trabalho que possa puxar por aqueles jovens e tirá-los daquilo que é uma linguagem com muita violência. Porque a sociedade está contra eles, embora diga que não. Porque eles vivem em situações de carência brutais que as pessoas nem imaginam. E a escola devia ser um sítio de cultura, de criatividade, onde todas as crianças se sentem apoiadas de igual para igual. Isso não acontece. Não acontece porque politicamente as coisas não funcionam assim. Porque o sistema não está virado para isso, há sempre uns privilegiados – nos quais estamos nós.
Como é que a tua experiência com o ensino influenciou a encenação da peça?
Nós acabamos sempre por trazer a nossa experiência para o palco. É a nossa bagagem. A mim, ajudou-me muito a perceber rapidamente quem eram aqueles jovens, porque eu conheço rapazes e raparigas que sentem aquela raiva, que fazem bullying, que não sabem como reagir ao sistema sem ser a partir coisas ou a bater nos outros e que estão contra as pessoas de modo geral. Isso ajudou-me a compreender rapidamente as motivações que levavam as personagens a agir daquela forma, porque por baixo daquilo que as pessoas veem há muita dor nas personagens que estão em cena.
No final da peça, uma das personagens diz: “Vamos partir tudo até que alguma coisa seja nossa”. Resume o sentimento punk da peça, não achas?
É aí que a peça é punk. Porque as pessoas às vezes veem esses movimentos em que se partem montras, ou se partem cadeiras, ou se parte qualquer coisa como terrorismo. Não! É um grito de revolta e às vezes é preciso partirmos coisas para as pessoas serem ouvidas. A história assim nos conta, e estes miúdos muitas vezes não têm outra capacidade de resposta a um sistema que é pesado e que está em cima deles se não rasgar e partir.
A peça foi escrita em 1978 no Reino Unido, quando havia uma crise social enorme. Qual é a força para adaptar a Portugal, onde começamos a ver algum desenlace social?
Confesso que quer eu, quer o elenco todo, ficámos muito surpreendidos à medida que fomos entrando para dentro do universo do texto. Como ele continua tão atual. Nós podemos não estar numa crise como aquela crise dos anos 70, mas infelizmente estes miúdos existem e estas comunidades existem. E no nosso caso aqui de Lisboa, que é o que eu conheço melhor, a miséria existe, o racismo existe, a exclusão social existe, e é isso que eles reclamam. O que é que eles reclamam? Há uma personagem que está sempre a ver um professor que vem para lhes dar uma mão. Estão à espera de Godot. Estão à espera de alguém que apareça e que pegue neles e que lhes mude a vida, a perspetiva de futuro que estes miúdos não têm. E nós agora até vivemos numa cidade onde tudo é cada vez mais caro. Hoje em dia os jovens já nem sequer conseguem viver na cidade onde nascem e estudam e trabalham. Não têm casas, não podem alugar uma casa, têm que viver todos em grupo, em casas velhas, com rendas possíveis de ser pagas por quatro ou cinco. Portanto, nós continuamos no sítio das bestas, como diz uma das personagens.
E porque é que o professor nunca chega, na tua interpretação?
Porque a sociedade não está aberta a isso. Aquilo é uma metáfora. Ele não chega porque o sistema está virado de costas para estas pessoas. Não interessa nada. Como se diz na peça: “São emigrantes, são pobres, são pretos”. Não querem saber. A sociedade não quer saber.
Porque é que a peça se chama Class Enemy?
Nós não conseguimos encontrar uma tradução para português que fosse tão abrangente quanto esta. Até porque hoje em dia já ninguém fala em luta de classes. E as turmas já não são classes, são turmas. Quando eu era miúda nós tínhamos classes. Ainda são classes em Inglaterra, não é? Portanto, Class Enemy é um termo que abrange tudo. Em português não conseguimos encontrar uma tradução boa.
Dizias que a peça se mantém atual, mas houve algumas adaptações a Portugal. O rapaz que repete o discurso racista vai buscar alguns chavões ao Chega, por exemplo.
Curiosamente não. Isso é que é assustador. Textualmente, a única adaptação que essa personagem teve foi que eles só falavam em blacks. Portanto, nós acrescentamos os imigrantes e os ciganos porque é o discurso atual, mesmo em Inglaterra. E ele mencionava no texto original que ouve os skins que vão para a porta da escola. E nos anos 80 também iam para as nossas escolas que eu bem os vi, ainda levei porrada deles quando tinha 15 anos, do MIRN. Os skins iam para as portas das escolas tentar arranjar seguidores, hoje em dia estão no Tiktok. Portanto, em vez de dizer que ele estava a ouvir a extrema-direita à porta da escola, pusemos que ele estava a ouvir a extrema-direita no Tiktok. É só isso. Todo o discurso que ele faz, pode parecer um discurso do Chega, mas foi escrito em 1978.
Portanto a peça traz uma situação que se passava há quase 50 anos na Inglaterra e situa-a num contexto em que se passa cá.
Sim, porque estamos outra vez com a extrema-direita com a cabeça de fora. Tivemos aqui um hiato. Até há uns anos atrás, onde eles estavam caladinhos e enterradinhos. Agora estão todos com a cabeça de fora outra vez, como estavam nessa altura.
E tem tido tração entre os estudantes também. Debateram-se com isso ao encenar a peça?
Sim, eu vi isso na escola. Eu vi isso nos miúdos de 14 anos, a reproduzirem esse discurso. Num debate que fiz com os meus alunos de teatro sobre os direitos humanos, apareceu um grupo do Chega aos gritos contra os ciganos e contra os emigrantes. E eu ainda me sentei lá a falar com eles um bocado, eles reproduzem o que a peça põe em cena. Isso é que é impressionante. Por isso parece que este texto foi escrito hoje.
Na peça, a pobreza tem várias expressões. Uma delas, talvez a mais extrema, está relacionada com a falta de comida. Haverá por parte do autor do texto alguma intenção ao associar esta expressão extrema da pobreza com personagens tão jovens?
É uma realidade. Essa realidade eu conheci-a nas escolas. Há miúdos que a primeira refeição do dia é o almoço que comem na escola. Quando foi da pandemia, alguns estavam a passar fome. Houve uma escola que manteve as refeições desde que se fosse lá buscá-las. Houve outra que não teve essa capacidade. E os miúdos passavam fome, portanto a fome existe cá. Estamos a falar de Portugal. É uma realidade que existe e que é falada também no espetáculo. Eles comem açorda porque não têm dinheiro para comprar bifes, como eles próprios dizem. Continua-se a falar em pobreza extrema, mas eu acho que essa pobreza abrange muita gente. Eu conheço malta da idade do meu filho, que tem 30 anos, que já vive numa casa e que tem tantas dificuldades às vezes para pagar tudo. Comem, mas comem pouco ou mal. Isso é um assunto que também devia estar na prioridade das nossas políticas.
Há uma ideia ligada também ao facto de ser uma peça punk. A ideia de que a pobreza desqualifica, no sentido em que expulsa cultural e socialmente estas pessoas da sociedade. Concordas?
É verdade. É uma bola-de-neve. As portas fecham-se todas consecutivamente. Não vais ao teatro, não vais aos restaurantes, não vais aos festivais, não vais a lado nenhum. Não tens dinheiro. Não fazes parte da vida cultural de uma cidade. Os meus alunos foram fazer uma visita ao Teatro Nacional e aquilo até a mim me incomodou imenso. Porque para eles foi uma comoção tal, eles até olham para aquilo como se estivessem num palácio. Se a pessoa nasce num sítio pobre, já nasce num seio familiar onde os pais têm muitas dificuldades para viver. Sai à rua e não tem infraestruturas nenhumas no bairro onde vive, sai desse bairro e as pessoas começam a olhar de cima a baixo. E há miúdos que têm uma consciência social e política de que tudo o que se passa à volta deles está contra eles.