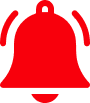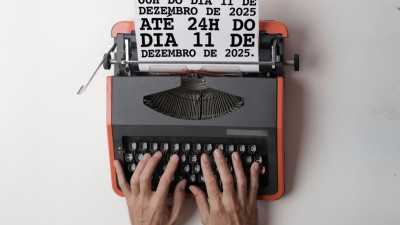A denúncia por agressões sexuais ao agora ex-porta-voz do Sumar, que saiu do Podemos em 2019 para se juntar ao Más Madrid, suscitou um amplo debate público na sociedade e, obviamente, também no seio de um feminismo muito plural. Nesta entrevista, Justa Montero, veterana feminista e ativista social e membro do Conselho Consultivo da revista Viento Sur, dá-nos o seu ponto de vista sobre um debate tão necessário e, ao mesmo tempo, como ela própria defende, complexo e com muitas arestas.
Viento Sur: A acusação de agressão sexual contra Iñigo Errejón e os testemunhos que se seguiram deram origem a um intenso debate público. Na sua opinião, qual é o foco do debate?
Justa Montero: Para além do processo judicial a que conduzirá a denúncia (ou denúncias) de agressão sexual contra Iñigo Errejón, o impacto foi demolidor. À denúncia juntou-se uma carta lamentável, cheia de eufemismos, em que ele reconhecia vagamente a sua conduta, ao mesmo tempo que se desculpava sem pedir perdão. Foi devastador para um político com enorme exposição pública, de um partido de esquerda da chamada nova política, declaradamente feminista.
O alcance deste caso produziu um debate público prolongado que pode marcar um ponto de viragem na compreensão do que são as violências sexuais. Um debate que não é fácil porque tem muitas arestas e mostra a complexidade da abordagem pessoal e social destas violências machistas.
Assim, à primeira vista, o que revela é algo que o movimento feminista tem vindo a levantar há muitos anos, desde que a violência sexual faz parte da sua agenda: que a violência sexual, nas suas diferentes manifestações, está mais normalizada do que a perceção social que se tem; que não há um perfil de homem assediador e agressor, ou seja, que a violência sexual pode vir das mãos de cidadãos respeitáveis, de pais de família (ou Dominique Pelicot, o reformado francês que organizou a violação de 92 homens à sua mulher, não parecia ser um?), pode vir de pais, colegas, familiares, professores…
No caso de Iñigo Errejón, o debate foi também impulsionado por um tratamento mediático moralista e sensacionalista, capaz de converter a dor num espetáculo (um programa de televisão chegou a reproduzir com artistas as cenas referidas na denúncia) e produziu um linchamento, criando um monstro merecedor de uma pena de prisão perpétua. Algo próprio do populismo punitivo e alheio a uma ética feminista, seja qual for o processo e a pessoa.
Mas, como assinala Paola Aragão no seu artigo “Reconstruir o monstro”, isto tem um objetivo, uma intencionalidade política clara. Trata-se de reinstalar no imaginário coletivo a ideia do agressor como um monstro, um tratamento que lhe confere o carácter de excecionalidade, de algo fora do normal, evitando assim qualquer identificação com o problema que o gerou, criando um sentimento de alienação. Isto, como estamos a ver, tem um efeito tranquilizador imediato para a sociedade, para os homens, e um efeito enganador para as mulheres.
Dos artigos escritos por homens que li nestes dias (de todos os tipos na escala ideológica), e estou certo de que há mais e que nas redes haverá comentários que também não li, são muito, muito poucos os que se sentiram interpelados; contam-se pelos dedos de uma mão e ainda sobram (no Viento Sur foi publicado um por Martí Caussa, “Errejón y nosotros”. É surpreendente o quanto os homens têm muito a dizer e a repensar (e, neste caso, particularmente os homens heterossexuais) a partir do lugar social que ocupam relativamente à sua masculinidade, às relações que mantêm, à sua participação na construção de relações que são prazerosas… Mas, pelo contrário, em alguns casos, caíram na culpabilização do feminismo e dos seus excessos.
Outra reação problemática que surgiu no debate são as que estão carregadas de conotações moralistas. Em vez de classificar as práticas sexuais, independentemente do seu tipo, em função da existência ou não de consentimento e, portanto, da sua consideração como agressão ou não, a partir da interpretação de testemunhos fora de contexto, parece que qualquer prática sexual insatisfatória num dado momento, não agradável ou diretamente desagradável, é uma agressão. E banaliza a expressão de cada mulher sobre as suas experiências sexuais.
O jornalismo sensacionalista e o moralismo estão a contribuir para despolitizar o debate aberto, pelo que é urgente ampliar o foco, mudar o enquadramento do debate e politizá-lo, ampliar o foco de atenção à violência sexual e, para além do nível estritamente individual, que é importante e exige verdade, justiça e reparação para as mulheres que a sofreram, confrontar-nos também com a natureza estrutural da violência sexual, nas estruturas sociais e nas relações de poder patriarcais e discriminatórias que a sustentam.
Gostaria de fazer um parêntesis para comentar como, surpreendentemente, o debate foi acompanhado por um ajuste de contas, com honrosas exceções, entre aqueles que fizeram parte do Podemos e do Sumar. Não estou a dizer que não há relação, é evidente que a hiper-liderança, as estruturas hierárquicas, os espaços pouco democráticos e o autoritarismo são propícios ao exercício do poder, mas deveriam procurar-se outros espaços para estas narrativas, a fim de evitar desviar a atenção, porque, de facto, nestas narrativas o problema da violência sexual e das mulheres que a sofrem desaparece.
Porque é que achas que as denúncias deste e de outros casos se têm expressado nas redes sociais e não nas esferas coletivas dos partidos ou dos espaços em que ocorrem?
Bem, em geral, há muito poucas mulheres que denunciam a violência sexual. De acordo com os dados disponíveis, que são do macro-inquérito à violência contra as mulheres de 2019, apenas 11,1% das mulheres que sofreram violência sexual fora do casal o denunciaram (ela ou outra pessoa em seu nome); esta percentagem desce para 8% se a queixa for apresentada apenas pela mulher que foi agredida. No caso da violação, a percentagem de mulheres que denunciam é um pouco mais elevada, mas apenas 18%.
Não existe um único motivo que o explique. A maioria das agressões sexuais ocorre em ambientes próximos, onde se desenrola a vida quotidiana das mulheres: na família, no trabalho, na universidade, entre amigos, na igreja, em vários centros. Mesmo no caso das violações, não é na rua que a maioria ocorre, como no caso do grupo La Manada. Em muitos casos, medeiam relações hierárquicas e de poder, que são difíceis de denunciar devido ao medo de repercussões imediatas no ambiente, devido a situações precárias, por exemplo, no âmbito laboral. Há mulheres que, mesmo que quisessem, não poderiam denunciar; é o que acontece com as mulheres migrantes em situação administrativa irregular, porque a lei as deixou de fora ao não modificar a lei dos estrangeiros e, por isso, se denunciarem, podem ficar expostas a processos de expulsão.
Assim, quando foi possível, porque as mulheres se sentiram apoiadas pela mobilização feminista e lhes foi oferecido um espaço para falar, aconteceu uma explosão de testemunhos anónimos. Nas redes, elas encontraram esse espaço onde podem contar as suas histórias e sentir-se acompanhadas, reconhecendo-se nos relatos umas das outras. Isto reveste-se de uma enorme importância política, porque o primeiro passo para avançar é dar a vez às vozes das mulheres. E nos testemunhos narram experiências que por vezes podem constituir um crime, noutras relatam práticas machistas de cretinos; em qualquer caso, permitem-nos conhecer a diversidade de experiências e o diferente impacto que as diferentes formas de violência sexual têm nas mulheres.
O facto de terem sido as redes a canalizar esta torrente, com determinadas garantias, levanta muitas questões, porque as redes, como todos sabemos, não estão isentas de problemas. Mas sobre a alternativa que foi defendida pelas instituições e por alguns grupos feministas, que é a denúncia como um processo mais garantista para as mulheres, em primeiro lugar, há que dizer que se refere a momentos diferentes, porque uma mulher pode querer deixar um testemunho da sua experiência, mas não querer denunciar porque talvez o seu testemunho não se refira a algo classificado como crime, ou porque, se o fizer, também não o quer fazer.
Como não ter medo da culpabilização e da revitimização, de ir a julgamento, do interrogatório e da exposição pessoal que isso implica? Basta recordar algumas das perguntas feitas nos julgamentos mais célebres, ou a contratação de um detetive, em nome da defesa dos violadores da La Manada, para escrutinar a vida da vítima. Há um filme e um documentário que refletem tudo isto com rigor. Refiro-me ao recente filme Nevenka (a vereadora da Câmara Municipal de Ponferrada que denunciou o presidente da Câmara, ambos do PP) de Icíar Bollaín; e ao documentário No estás sola (Não estás só) sobre as múltiplas violações do grupo La Manada em Pamplona, de Almudena Carracedo e Robert Bahart. Nestes dois casos, as mulheres ganharam em tribunal, as resoluções tiveram implicações sociais e jurídicas importantes devido ao impacto que tiveram e permitiram que as mulheres seguissem em frente com as suas vidas, apesar de terem de deixar as suas cidades. Vendo-os, é fácil compreender por que razão uma mulher não quereria submeter-se a processos penais tão longos e duros.
Perguntavas por que razão as denúncias não foram feitas nos locais onde ocorrem. Todos os partidos disseram que aprovaram protocolos contra o abuso ou contra a violência masculina. Mas os protocolos não são a única garantia; a par deles tem de haver uma cultura política e organizacional sobre as violências, com mecanismos de escuta preventiva e segura para identificar comportamentos machistas, de acompanhamento e de atenção. Em suma, para garantir que sejam espaços políticos de relações seguras e amistosas em que a cultura machista seja combatida, que existam medidas a serem implementadas em caso de testemunho ou denúncia para garantir a não repetição. Não creio que exista uma fórmula mágica; são os próprios processos de construção do coletivo que marcam e onde os grupos de mulheres neles inseridos têm de ter legitimidade e autoridade.
Podes explicar os motivos da polarização entre posições punitivistas a anti-punitivistas?
Do meu ponto de vista, a questão central para avançar para um horizonte de transformação é como acabar com a impunidade que rodeia as violências sexuais e protege os agressores, e como garantir a reparação das vítimas. A impunidade e a reparação são as duas partes que dão sentido à exigência de justiça e de garantias de não repetição, porque com impunidade nunca haverá reparação.
A pergunta que o feminismo faz é: quais são as estratégias para enfrentar as violências sexuais para que haja verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição? E é aqui que reaparece o debate punitivismo-anti-punitivismo.
Um esclarecimento prévio, porque a partir do caso Errejón atribuem-se posições punitivistas ao feminismo como se este fosse um conjunto homogéneo. Embora exista um sector do feminismo que tem uma deriva punitivista, que é mais próxima das posições liberais, social-democratas ou do feminismo clássico, não é de modo algum a posição daquilo a que eu chamaria as greves feministas. Esclareço isto porque argumentar que apresentar uma queixa legal é punitivista pode ser trivializar o valor de uma queixa. Como salienta Laia Serra (advogada criminalista e feminista):
“Precisamente, se há movimento político que não parou de se rever, esse movimento é o feminismo de base. Não precisamos de lições de anti-punitivismo, conhecemos por experiência própria a crueldade do sistema e o impacto da repressão, e temos muito claro que o direito penal não só não resolve os problemas sociais, como multiplica a violência. Sempre fez parte da nossa ética e do nosso compromisso emancipatório ser contra a inocuização social.” (pikaramagazine)
O debate com as posições punitivistas é muito importante e, como resultado da lei do “só sim é sim”, do populismo punitivo que se expressou diante das reduções de pena e das libertações da prisão, o debate sobre as suas consequências aprofundou-se e ampliou-se. Falar de punitivismo é olhar para o Estado, que detém o monopólio da violência e para o sistema prisional e de segurança que cria, e para toda a sua trama jurídica de controlo social. E o Estado exerce a violência contra as mulheres de muitas maneiras, como mostra o livro Cuando el estado es violento, de Ana Martínez e Marta Cabezas.
Mas o interesse também está centrado, do meu ponto de vista, na abordagem do anti-punitivismo, porque é isso que pode abrir novos horizontes para aquilo a que chamamos justiça feminista. Falo a partir da minha identificação com um feminismo que foi e é anti-punitivista, que se confrontou com o populismo punitivo, crítico, portanto, do sistema penal, das prisões e do seu suposto efeito preventivo. Este movimento feminista nunca se centrou no aumento das penas, que não foi o que se exigiu no caso da manada de Pamplona, exigiu-se uma mudança na consideração da violência, do assédio à violação múltipla.
Mas, e volto a Laia Serra, este debate sobre o anti-punitivismo não pode ofuscar o problema real e não resolvido do que fazer com a impunidade generalizada das violências e de quem deve ser responsabilizado pelas suas consequências. Por outras palavras, a forma de fundamentar estes acordos teóricos sobre o anti-punitivismo torna-se mais complexa para a prática política feminista, quando é necessário atermo-nos à realidade concreta das mulheres.
E é aqui que a complexidade regressa. Mencionei anteriormente como as mulheres podem sentir reparação de formas muito diferentes: através de uma resolução judicial, em que talvez o menos importante seja a pena, mas sim o reconhecimento formal da agressão; em como pode ser um processo reparador se houver um acompanhamento profissional e social que apoie as mulheres; pode valer uma reparação económica ou sentir-se reparada pelo reconhecimento e responsabilização do agressor no ambiente em que a agressão teve lugar. E todas elas são igualmente legítimas e necessárias porque se centram nas necessidades das mulheres e na forma de pôr termo à impunidade e de conseguir a reparação.
Assim, por um lado, conhecemos os problemas que as mulheres enfrentam nos processos judiciais e não há lugar para qualquer tipo de embelezamento ou mitificação. Mas conseguir mudanças, abrir brechas no sistema que permitam melhorias na vida real das mulheres, como o facto de as mulheres não terem de apresentar queixa para aceder a recursos, a tratamento psicológico, a existência de centros específicos de atendimento de emergência, a centralidade da prevenção social e no âmbito educativo e continuar a confrontar a justiça patriarcal, permite-nos continuar a responsabilizar o Estado pelas suas derivas patriarcais, autoritárias e punitivas e avançar para o horizonte de um sistema de justiça feminista.
Por outro lado, nas posições anti-punitivistas, a alternativa à denúncia judicial é colocada como justiça restaurativa/transformadora centrada nos processos comunitários de reparação e responsabilização individual e coletiva. O facto de existirem algumas boas experiências de promoção da não-impunidade e da reparação a nível comunitário é muito importante e encorajador. É também importante que haja mulheres e homens envolvidos no seu desenvolvimento, de forma a somar e a avançar na reflexão sobre a justiça feminista que pretendemos. Mas também é importante não embelezar, porque também tem as suas limitações e dificuldades. Estes espaços, nos quais participamos, também estão em processo de construção e são marcados pela desigualdade. Quando um caso de violência sexual foi levantado, por vezes houve dinâmicas de revitimização da mulher que fez a denúncia no coletivo. Estas experiências nem sempre foram positivas e a auto-gestão da violência nem sempre foi resolvida de forma favorável. Abordá-lo não de forma complementar, mas alternativa, gera problemas práticos porque a grande maioria das mulheres que sofrem violência sexual não participa nem tem a possibilidade de o fazer neste tipo de comunidades e redes sociais e precisa de outras ferramentas.
Em conclusão, o anti-punitivismo é algo que se vai construindo a partir de práticas diversas, na esperança de encurtar a distância entre a justiça feminista a que aspiramos e as conquistas concretas que alcancemos: medidas preventivas, de cuidados integrais para as mulheres que sofreram violência sexual, de transformação do sistema judicial, de construção de coletivos e de relações agradáveis e satisfatórias, a fim de melhorar a situação das pessoas que sofrem violência sexual.
E qual deve ser o papel do feminismo neste debate?
Antes de mais, um esclarecimento, porque, da forma como o debate público está a decorrer, penso que é necessário voltar a falar de feminismos no plural. Fazem-se demasiadas referências ao feminismo como se fosse um bloco compacto ou um partido, quando são um movimento plural. Assim, está a ser silenciado, até surpreendentemente por vozes amigas, o feminismo de base que foi alimentado pelas greves feministas que, como disse, fugiu do punitivismo, que sempre se centrou na agência das mulheres como sujeitos com capacidade ética para tomar decisões sobre as suas vidas, a sua identidade, sexualidade, prazer e amor, não como vítimas mas, mesmo em situações duras e difíceis, como sujeitos ativos para formular as suas reivindicações. É o que se exige para todas, para as trabalhadoras do sexo, para as pessoas transgénero, em relação à maternidade, às relações sexuais, para enfrentar as violências. É o feminismo que pratica uma abordagem interseccional para ancorar a história e as propostas nas realidades concretas das mulheres, a partir das suas condições materiais de vida e da subjetividade de cada uma para alcançar vidas dignas e livres de violência. Acredito que é isso que aponta para um caminho mais transformador.
O que foi sendo aqui comentado são apenas breves anotações; como já disse, trata-se de um debate complexo, e quanto mais atores estiverem envolvidos, mais arestas surgem. Penso que temos de continuar a refletir sobre o assunto e a colocar-nos muitas questões, pois temos vindo a fazê-lo ao longo de toda a nossa vida. Combater a violência nos dois níveis interligados – o individual e o estrutural – significa confrontar a subjetividade e a realidade material das mulheres e dos homens e as estruturas de poder do sistema que geram e sustentam a violência.
Estamos num momento importante para consolidar e avançar o que foi alcançado, para vencer na luta pela narrativa que foi desencadeada.
Perante o risco de um fechamento moralista do debate, no qual a direita e a extrema-direita entrarão com força, é uma oportunidade para explicar as razões da defesa da nossa agência sexual e da nossa luta contra a violência masculina. E perante o risco de silenciamento das mulheres, não há outra alternativa senão, como sempre, a organização e a mobilização feministas. Porque a mobilização feminista é também reparadora para muitas mulheres. Gosto de recordar as palavras de gratidão na carta enviada pela mulher que sofreu a violência da La Manada: “Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram neste percurso. A todas as pessoas que, sem me conhecerem, tomaram Espanha e me deram voz quando muitos tentaram tirar-ma”.
Publicado originalmente no Viento Sur.