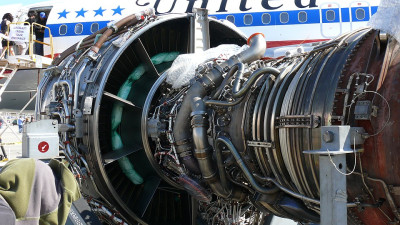A Madeira foi vítima de um terrível incêndio que destruiu mais de 10% da sua área florestal e afetou populações locais. A gestão florestal na Madeira tem várias lacunas e a ilha tem vindo a ser palco de incêndios regulares há pelo menos vinte anos. A dimensão do último incêndio, um dos mais devastadores até à data, está relacionada com a forma como as políticas para a agricultura e para a floresta têm influenciado a gestão de terrenos e o crescimento de espécies invasoras.
A gestão de crise na hora do incêndio pelo executivo de Miguel Albuquerque foi criticada pela forma como se desresponsabilizou e não assumiu a necessidade de ajuda por parte da República. Mas por detrás da má gestão de crise, estão décadas de falta de capacidade de aplicar uma política territorial, florestal e agrícola que sirva a Madeira e que previna os incêndios.
Hélder Spínola é professor na Universidade da Madeira, investigador, ex-deputado regional e ex-Presidente Nacional da Quercus. Como independente, foi candidatado duas vezes à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Em entrevista exclusiva ao Esquerda, fala sobre as dificuldades da Madeira em matéria de incêndios, de floresta e de economia.
Madeira
SINFAP aponta caminho a seguir face às consequências do incêndio na Madeira
Que histórico de políticas de gestão florestal existe na Madeira, especialmente nos últimos anos?
Nós temos tido ao longo dos últimos 10 anos várias situações que em alguns casos são positivas, em outros são muito negativas. Torna-se bastante evidente que nós temos um problema sério de incêndios. Nomeadamente incêndios florestais, mas muitas vezes incêndios rurais, afetando também muitas zonas habitadas. Estes incêndios começaram a afetar as zonas povoadas. No passado era comum estes incêndios se desenvolverem particularmente em zona de serra, afetando valores económicos e ambientais importantes, mas fazendo com que as pessoas e a sociedade em geral prestassem pouca atenção ao problema porque ele não lhes tocava diretamente à porta.
Mas os incêndios recentes têm tido um impacto mais próximo das populações.
Em 2010, os incêndios ainda tinham aquela característica de afetar as zonas de montanha, mas estes incêndios deixaram de afetar apenas as zonas florestais e começaram a afetar as zonas povoadas. Isto está muito relacionado com o abandono da atividade agrícola. Com esse abandono, os terrenos agrícolas junto às habitações encheram-se de matos, constituídos maioritariamente por espécies invasoras. Por isso, os incêndios aqui na ilha da Madeira ganharam características diferentes e isso fez com que a sociedade começasse a prestar mais atenção ao assunto. E talvez por isso é que também nestes últimos 10 anos surgiram algumas políticas públicas que são positivas, mas que são insuficientes e que revelam uma fase muito inicial de um caminho que tem de ser percorrido.
Que políticas foram essas?
A aprovação do plano regional de ordenamento florestal, em 2015, que é um documento que já devia existir há décadas. É um sinal positivo em relação a esta vontade de fazer alguma coisa. E também depois de 2016, começaram com um projeto de criação de aceiros nas zonas mais altas da cidade do Funchal. Mas mais uma vez estamos a falar de uma intervenção muito localizada e muito pontual, que não está integrada com uma visão mais abrangente do território e que acaba por não funcionar na contenção dos incêndios, numa dinâmica mais abrangente.
Que balanço faz então da gestão agroflorestal na Madeira?
Bom, pode dizer-se que a maior parte do trabalho na área da prevenção está por fazer. Neste plano regional de ordenamento florestal estão previstos os planos de defesa da floresta contra incêndios, neste caso o plano regional. Ao contrário do que acontece no território continental, aqui na Madeira também não temos os planos municipais de defesa contra incêndios. Ou seja, nós não temos um planeamento e uma intervenção no território no sentido de acautelar, prevenir, conter minimizar este problema dos incêndios florestais.
Há outras causas socioeconómicas, industriais ou de mercado, para o abandono desses territórios?
Sem dúvida. Esta realidade não surge por acaso. Naturalmente que a Madeira, do ponto de vista económico, se foi transformando. E hoje a economia está muito terceirizada, baseada no turismo e em serviços públicos. Pode-se dizer que o grande motor da economia regional é, em primeiro lugar, o orçamento regional e depois o turismo. A agricultura foi perdendo pessoas, não soube adequar-se aos novos tempos. Nós tínhamos uma agricultura tradicional feita em propriedades muito pequenas, muito dependente da mão-de-obra e das formas tradicionais de fazer agricultura. Que depois tem muitas dificuldades em ser rentável e em suportar financeiramente as famílias e a tendência natural foi a do abandono da atividade agrícola. Não existindo as políticas necessárias para que as pessoas se pudessem dedicar à atividade agrícola e pudessem dessa atividade tirar rendimentos, as pessoas foram sentindo que não valia a pena.
E o processo de transição da atividade económica levou, portanto, ao abandono dos terrenos.
Sim. Não havendo mecanismos para que as pessoas mantivessem uma atividade agrícola nos seus terrenos e não estando a ser geridos para outro tipo de atividade, nomeadamente pequena pastorícia ou outra atividade florestal produtiva, o que aconteceu foi o abandonar. E quem teve grande vantagem com esse abandonar foram as espécies invasoras, que têm naturalmente uma capacidade de povoamento dos espaços e até de velocidade de crescimento muito maior do que as espécies nativas. Isto significa também que quando um incêndio não é resolvido inicialmente, como aconteceu agora na serra de Água, no Conselho da Ribeira Brava, depois torna-se muito difícil de o controlar. Porque existe material para arder de uma forma contínua ao longo de todo o território e não há zonas onde se possa conter esses incêndios.
Incêndio
BE Madeira preocupado com vítimas dos incêndios e crítico da postura do Governo Regional
Como é que se transforma a política de gestão agroflorestal?
É preciso fazer várias alterações. Uma delas passa, de uma forma bastante imediata, por pôr em prática planos de defesa da floresta contra incêndios, quer de âmbito regional, quer de âmbito municipal. Naturalmente que têm de estar integrados entre si para dar uma coerência a essa prática no território ao nível de toda a ilha. E estes planos são particularmente importantes porque é neles que se definem as zonas onde vamos gerir este excesso de vegetação de espécies invasoras. Se isso não for feito será muito difícil de ter uma intervenção no terreno que tenha efeitos. É com esse instrumento que depois podemos ir para o terreno com políticas públicas para os terrenos públicos, mas também políticas públicas para os terrenos privados, de modo a que nos próximos anos possamos ter um território em que caso algum incêndio aconteça por descuido ou de forma propositada, e caso esse incêndio não consiga ser extinto inicialmente, que o próprio território seja mais resiliente ao seu avanço e que também facilite depois o seu combate.
Não haverá também na necessidade de reformulação da política agroflorestal, uma oportunidade para reorientar a economia da Madeira? De conceber o território como produtor de riqueza e como impulsionador da Madeira?
Sem dúvida. Nós precisamos de olhar para o nosso território como fonte de produção de bens que nós precisamos e repare-se: nós estamos numa Região Autónoma, e muitas vezes esquecemos o significado disso. Claro que ela é muito focada do ponto de vista político, mas nós também temos que perceber que esta autonomia também tem de se refletir em relação aos recursos. E nós temos uma elevada dependência do exterior, quer seja energética, quer seja em bens alimentares. É difícil realmente de compreender como é que nós temos esta visão de querer aprofundar essa autonomia e depois esquecemos da necessidade de ter uma melhor resposta em termos de obtenção de recursos do nosso próprio território. Nós temos uma grande dependência do exterior em termos de produção alimentar e, no entanto, temos áreas extensas de terrenos agrícolas que não são utilizados.
E de forma mais imediata, por exemplo com o caso das cheias, como é que se prepara o território?
Estes incêndios acabaram por revelar um conjunto de problemas que outros incêndios no passado já haviam revelado, ou seja, o cenário que temos agora pós-incêndio é o cenário que nós tivemos ano passado e o cenário que tivemos em 2016. Já conhecemos muito bem o que isso significa. Para além daquilo que se perdeu de forma imediata em termos de de biodiversidade, tivemos uma perda de proteção dos solos num território com relevo acentuado que agora ao se iniciarem as chuvas do outono e inverno, vão arrastar materiais costa abaixo para as linhas de água e vai ter efeito sobre as zonas de captação de água. Estão já estudadas várias intervenções que podem ser feitas para minimizar estas consequências. É necessário identificar as zonas possíveis de intervencionar e que tipo de técnicas e intervenções devem ser feitas. A tendência é para utilizar engenharia pura e dura, mas em muitas das situações, o que se recomenda é uma engenharia ecológica, no sentido de aproveitar recursos naturais para promover uma recuperação mais rápida dos dos espaços e de um exemplo muito muito simples.
Quais são as consequências de não haver uma estratégia para o futuro e de continuar a adiar este problema?
É repetir estes cenários e agravá-los. Eu tenho memória de pelo menos duas décadas de incêndios e lembro-me que nós tivemos grandes incêndio mas que nunca eram sequer notícia na altura. Ou seja, não era de interesse para a comunicação social regional. E nessa altura cada incêndio era um aviso. Só quando esses avisos começaram a aproximar-se das pessoas é que começou a despertar a atenção da sociedade da comunicação social até chegarmos cá. Aquilo que se antecipa para os próximos anos é que não existindo esta intervenção de que há pouco se falava no território, este problema vai-se repetir e vai-se agravar pelo próprio efeito das alterações climáticos. Se nós olharmos para o nosso território, com alguma facilidade nós começamos a antever onde é que vamos ter o próximo grande incêndio, porque tem a ver com as espécies invasoras que vão repovoando aqueles territórios e porque nada se fez para mudar essa realidade.