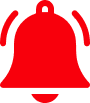O que capitaliza o capital é poder semiótico.
Félix Guattari (A Revolução Molecular)
O campo cultural, como qualquer outro campo, não o podemos esquecer, é atravessado por forças de dominação e poder que atuam em diversos espaços sociais, com grande relevo no próprio aparelho de Estado e administração pública. Se entendermos que um equipamento cultural público (teatro, museu, etc.) representa a materialização histórica de um certo tipo de instituição cultural (material e simbólica, espacial e semiótica) - tão antiga como o théatron grego – podemos afirmar que tudo o que anteriormente referimos se aplica com maior acuidade ao sector cultural. Porquê? Porque importa reconhecer a indubitável importância da dimensão cultural (simbólica) nos processos de individuação psicológica e coletiva, certamente com diferentes nuances ao longo da história, mas com um maior grau de complexidade nas atuais sociedades ditas do conhecimento e da informação.
É sabido que o capitalismo pós-fordista reveste-se de um investimento generalizado na flexibilidade dos processos, dos produtos, dos padrões de consumo, dos mercados e da organização do trabalho. Nesta situação, a crescente mercadorização da cultura sob a égide do capitalismo tardio globalizado vem determinando a capitulação incondicional da cultura face aos imperativos do capital global, numa lógica de comercialização generalizada de todos os aspetos da vida e do conjunto das relações sociais.
Sob estas condições, o cidadão é tratado simultaneamente como consumidor e como produto, como empreendedor que se explora a si mesmo de modo a produzir mais valias para o capital. Como Debord vaticinou, o espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem, e a imagem é um objeto mediador das relações sociais, o que significa que as relações sociais mediadas pela cultura (imagens, artes, conhecimentos, etc.) ficam capturadas pela mesma lógica de mercantilização infinita, que nos seus aspetos fundamentais significa: privatização dos serviços públicos, precariedade generalizada, aumento da miséria e pobreza...
No horizonte do “Capitalismo Cognitivo”, Franco Berardi Bifo avança com o conceito de Cognitarian Subjectivation (Bifo, 2010) apropriando-se da noção de intelecto geral delineada por Marx no manuscrito Grundrisse. Atualizando a conceção inicial de Marx, Bifo incide a sua análise nos excessos do trabalho semiótico em torno da linguagem, do conhecimento e da informação, i.e., na produção daquilo que designa como info-mercadoria ou semiocapital: “O semiocapital apropria-se das energias neuro-psíquicas e coloca-as ao seu serviço, submetendo-as às velocidades maquínicas e compelindo a atividade cognitiva a seguir o ritmo da produtividade das redes telemáticas.” (idem, tradução nossa).
O facto de estarmos hoje mais afastados da participação cívica e da interação social-simbólica diz muito acerca do fracasso das instituições e do seu contributo para a vitalidade social e urbana
Tal como os peixes num aquário dependem da qualidade da água em que estão imersos, nós dependemos da atmosfera cultural existente a cada momento e daquela que soubermos produzir. As instituições devem por isso zelar pela boa qualidade da vida cultural, pela qualidade da vida mental e espiritual dos cidadãos, ou seja, pela defesa de um meio-ambiente cultural revitalizante, criativo, crítico e emancipador. Mas que processos de subjetivação individual (individuação psíquica) e coletiva podem ocorrer no contexto do capitalismo cultural? Questionando de outro modo, qual o papel das instituições culturais num ambiente globalmente dominado pela ditadura dos mercados?
Numa outra dimensão da cultura – formas da religião -, a ideologia financeira apropriou-se e incutiu sobre os povos do sul (católicos) a ideia de que a dívida pública equivale a um pecado cometido contra o deus dinheiro, a análise de Walter Benjamin em torno do Capitalismo como Religião é esclarecedora, o capitalismo é provavelmente o primeiro exemplo de um culto que não é expiatório (entsühnenden), mas culpabilizador, evocando a ambiguidade da palavra alemã “Schuld”, que significa ao mesmo tempo dívida e culpa. Neste sentido, o que o capitalismo tem de historicamente inédito é que, enquanto religião, não representa a ideia cristã de salvação, mas antes, a de ruína do ser humano.
Ainda que as instituições culturais forneçam os meios (espaço, tempo, pessoas, tecnologias, etc.) que possibilitam a interação social-simbólica e a experiência estética, tal função não está isenta da sujeição aos múltiplos poderes e violências simbólicas que operam condicionamentos individuais e coletivos. Convém por isso ter um entendimento da instituição cultural (material: espaço físico ou intangível -comunicação-) enquanto dispositivo sociotécnico transdutor, ou seja, enquanto ecossistema produtor de equilíbrios meta-estáveis (nem estáveis, nem instáveis) e interface por onde circulam as codificações e as descodificações das palavras-de-ordem e dos textos, em sentido lato.
É em interação com este meio-ambiente-cultural (o tal aquário semiótico) e espaço de socialização secundária, que em parte se modulam as formas de pensar e agir dos indivíduos, a individualidade e auto-identidade (self). A profundidade desta interação transdutiva, sabe-se hoje, não é apenas entre individuo e ambiente, mas alcança o estrato neuronal e alterações na neuroplasticidade induzidas pela intensa imersão em ambientes tecnológicos. O homem é assim o único animal, diz Berardi Bifo, que desenvolve ambientes que por sua vez moldam o cérebro humano.
É pois legitimo afirmar que as instituições culturais são co-responsáveis pela qualidade das transações, das interações e das experiências, não podendo por isso demitir-se do seu papel mobilizador dos agenciamentos críticos que permitam a auto-reflexão individual e coletiva, em especial em épocas de crise e desorientação como aquelas que vivemos. Caso contrário perdem valor institucional e não servem (ou pouco servem) à função de contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades humanas e florescimento do bem-estar, solidariedade, liberdade, justiça, democracia, etc.
Se as instituições culturais públicas, inerentes à categoria do comum, não (re)agirem às dinâmicas coercivas lançadas na sociedade - dinâmicas que assumem contornos cognitivos, emocionais, afetivos e simbólicos, mas que promovem igualmente a despolitização de largas camadas da população -, recriando novos paradigmas de interação e mediação cultural, ficam reféns dos sistemas de dominação e controlo (mercados e governação).
O reposicionamento das instituições culturais deverá partir do reconhecimento dos problemas existentes a cada momento: para além dos problemas locais, a questão da economia/hipertrofia da atenção, hipermediatização, despolitização, exaustão psicológica, precariedade laboral, angústia social, depressão económica, alterações climáticas, guerra infinita, etc, etc, etc. Só reconhecendo, agindo e comunicando a partir da problematização criativa dos problemas concretos é que as instituições culturais validam a sua pertinência junto dos públicos emancipados – os que potenciam a comunidade que vem.
A comunicação assume assim a condição prévia de toda a participação e também da formação dos públicos. O público neste contexto é, na esteira do pragmatismo de John Dewey, um público político no sentido forte e associativo. Não sendo um grupo ou comunidade naturalizado e dado antecipadamente, o público co-emerge através das interações e transações, e por isso mesmo não preexiste às condições e situações que provocam essa emergência. Ou seja, os públicos são plurais e dinâmicos, não são uma identidade cristalizada, existem em potência, podendo ter existência real caso se verifiquem as condições e os contextos necessários à interação.
Por outro lado, as pessoas que integram esses públicos - todos nós na medida em que somos simultaneamente leitores e produtores de textos - requerem um quadro de interação e participação, bem como delineiam um horizonte de expectativas que exige atenção e dedicação genuína por parte das instituições culturais. Os públicos não são atores neutros e incapazes, antes pelo contrário, transportam consigo todo um património de conhecimentos e capacitações adquiridas ao longo da vida que lhes permitirá averiguar e avaliar o valor das instituições. E o facto de estarmos hoje mais afastados da participação cívica e da interação social-simbólica diz muito acerca do fracasso das instituições e do seu contributo para a vitalidade social e urbana.
Artigo de Rui Matoso para esquerda.net. Este artigo é a segunda parte de um conjunto de três artigos. O primeiro é Para que servem as instituições culturais em épocas de crise?