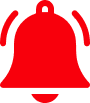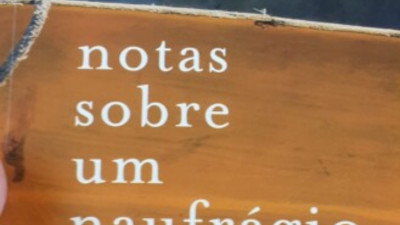David Lynch foi, acima de tudo, um artista. Um cineasta que se tornou uma estrela após o impacto mundial da série Twin Peaks, mas que priorizou permanecer um artista com a sua própria voz. Conseguiu que uma série de televisão fosse fixe muito antes dos Sopranos ou do The Wire. E apesar deste sucesso estonteante, lutou pela sua autonomia criativa, mesmo que isso lhe trouxesse dificuldades em levar a cabo os seus trabalhos.
Por vezes, o artista, que morreu a 16 de janeiro com 78 anos, encontrava soluções e escapatórias. O agora consagrado Mulholland Drive foi o primeiro episódio de uma série televisiva que não foi feita porque a cadeia de televisão que a iria acolher exigiu alterações. O seu autor soube e conseguiu reconfigurar a obra como uma longa-metragem, ao conseguir que outros fornecessem financiamento adicional para a retrabalhar e completar. A última e tardia temporada de Twin Peaks também não foi uma produção fácil, tendo havido ameaças de rotura transmitidas pela Internet. No final, acabou por chegar a bom porto. Foi a última grande obra do autor, embora tenha iniciado novos projetos que nunca se concretizaram.
Criador de um género-mundo
Pintor, músico e mil outras coisas, Lynch criou quadros, colagens, esculturas, canções, vídeos musicais, anúncios publicitários e muito mais. Filmou recriações de época salpicadas de magia (O Homem Elefante), ficção científica sonhadora (Dune) e até um inesperado road movie dramático (Uma História Verdadeira), mas talvez o seu maior feito tenha sido a criação de uma espécie de género cinematográfico próprio que se tornou um mundo pessoal em expansão: o thriller lynchiano. Um thriller que é sobretudo seu, embora outros autores tenham realizado filmes que podem ser relacionados de alguma forma com esta tradição, como o Richard Kelly de Donnie Darko ou o Denis Villeneuve de Enemy.
Através de filmes como Veludo Azul, Coração Selvagem, Twin Peaks: Fire Walk with Me e Lost Highway, Lynch perseverou, de certa forma, como um sonhador de pesadelos cinematográficos. Fez filmes-experiências, viagens arrebatadoras pontuadas por momentos desconcertantes, que tinham um potencial invulgar para gerar memórias indeléveis. Mais uma vez, talvez, porque eram obra de um artista. As histórias eram fascinantemente incertas. Foram concebidas para sugerir e surpreender como um ato de ilusionismo, sem fornecer guias para a resolução dos enigmas. O curioso é que a sua primeira longa-metragem, Eraserhead, tem qualquer coisa de big bang criativo. O universo do autor foi-se refinando, encontrando o seu próprio lugar, mas os traços dessa primeira explosão reapareciam constantemente.
Lynch era um mestre na criação de situações memoráveis, deliciosamente rarefeitas, que filmava e editava com cuidado. As imagens eram poderosas, assim como os sons (todos os sons, não apenas a música). E as palavras. Porque Lynch escreveu muitas frases sugestivas como um encantamento, e essa é talvez uma faceta da sua arte que não tem sido suficientemente valorizada devido à enorme força visual do seu cinema, à iconicidade de espaços como a sala vermelha em Twin Peaks ou o Silent Club em Mulholland Drive. Veja-se a história sombria contada por uma personagem alucinada interpretada por Grace Zabriskie em Inland Empire.
I’m afraid of americans, I’m afraid of the world
As viagens cinematográficas de Lynch baseavam-se muitas vezes nos arquétipos do film noir. Este terreno de jogo servia como uma espécie de ligação entre o quotidiano “mundano” (que não parecia interessar muito ao cineasta) e os mundos alucinados que o autor acabava por criar. Aparecem mulheres em perigo, sujeitas ao poder de chefes criminosos que despertam o interesse de homens mais ou menos inocentes que as querem salvar. Por vezes com despojos em disputa, porque o dinheiro tende a ser uma das principais paixões (talvez a principal, a verdadeiramente principal) no mundo do film noir, um dos códigos mais fecundos para relatar a vida sob o capitalismo. E as sombras que existem na normalidade. Lynch trouxe acréscimos peculiares a essas histórias criminais. Não só personagens com facetas ocultas, com segredos e vidas duplas, mas também doppelgangers e outros fenómenos que pareciam ser versões oníricas e irracionais de crises psiquiátricas, surtos psicóticos e fenómenos de dissociação.
O cinema lynchiano tem muitas particularidades. Há uma espécie de olhar de boy scout no fundo de tudo, de uma criança que descobre, perplexa, que no bar da sua aldeia pode haver tráfico de droga. Um medo flandersiano de uma contemporaneidade vista como um ninho de hábitos perversos, de desordem moral. Hollywood, claro, aparece como um espaço de infinitas vaidades e corrupções. Nos filmes do autor de Twin Peaks, o mundo tornou-se uma passarela de terror de gangsters fetichistas e pais violadores onde a inocência parece destinada a ser manchada e a preservação da bondade é um ato de resistência quase impossível.
Outros cineastas imaginaram lugares seguros, espaços ou passados nos quais se refugiar. Desde o início, Lynch não foi por aí. Veludo Azul parecia encenar que a imagem idealizada de uma América ordenada, plácida e livre de pecados, imaginada pelo McCarthismo da sua infância, era uma mentira. Que na comunidade idealizada de então se podia encontrar, se se olhasse com atenção, uma orelha cortada rodeada de insectos. O lynchiano era encenar que as cenas de normalidade tinham sempre um ponto nebuloso, e que essa aparência de normalidade estava permanentemente à beira do colapso. O quotidiano estava sempre à beira de se tornar uma viagem delirante, em O Feiticeiro de Oz, O Carnaval das Almas ou uma qualquer viagem de Alice a um terrível país das maravilhas.
Alguns dos melhores momentos do cinema lynchiano transmitem essa fragilidade das aparências de normalidade prestes a explodir, de psiques que tentam manter a calma apesar de estarem à beira de se estilhaçar. Como se alguém, tal como o ilusionista do Montana, estivesse prestes a levantar um véu e a revelar horrores que permanecem escondidos e não podem exprimir-se, que são demasiado aterradores até para serem olhados. Uma cena muito recordada de Mulholland Drive é a de uma personagem aterrorizada com a possibilidade de o mundo, aquilo que está a viver, convergir com o pesadelo que tinha tido. Que o pesadelo se revelasse real. E que, como no desfecho de Twin Peaks, que tinha algo de horror cósmico lovecraftiano, não houvesse escapatória.
Enquanto criador, Lynch devolvia o seu público a uma posição de humildade. O espetador que precisava de ter todas as chaves para poder consolar-se com a ideia de saber tudo, de compreender todo o puzzle que acabara de contemplar, podia sair da sala escura frustrado, quase indignado. Sem perceber que, aplicando outro ponto de vista, o que Lynch estava a fazer era dar outro tipo de poder ao público, dando-lhe autonomia suficiente para que pudesse percorrer as suas ficções com uma certa liberdade e procurar as suas próprias respostas através da intuição. E, acima de tudo, desfrutar da viagem através de alguns dos melhores pesadelos que nunca ninguém imaginou.
Ignasi Franch é jornalista cultural e crítico de cinema. Artigo publicado em El Salto. Traduzido por Luís Branco para o Esquerda.net.