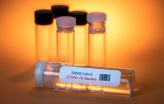“Escassez tira vacinas a mais de um milhão de portugueses”. Eis um dos destaques da imprensa desta sexta-feira, o mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen reconheceu, com António Costa a seu lado, que foi subestimada a "falta de capacidade de produção em massa" da vacina da covid-19 e desconsiderada, pelas autoridades, a incapacidade de “uma produção rápida por parte das empresas farmacêuticas”.
Foi mesmo. Os dados mostram que nunca houve nenhum problema logístico no plano de vacinação. O nosso Serviço Nacional de Saúde, sujeito a uma pressão inédita e submetendo os profissionais a uma enorme sobrecarga sem as devidas recompensas, tem revelado uma extraordinária capacidade de responder às necessidades de vacinação. Quando há vacinas, a administração é feita rapidamente, a uma velocidade superior à de muitos países europeus. O exemplo dos lares mostrou isso mesmo: cerca de 200 mil pessoas foram imunizadas em poucos dias. Só que sem vacinas, nenhum plano resiste.
Enquanto alguma imprensa se concentrava no exaustivo esmiuçar desses casos isolados de vacinação indevida, sem dúvida lamentáveis e por vezes verdadeiramente infames, parecia escapar ao debate público o problema de fundo com que já estávamos deparados. A fraude de 0,1% não explica, como é óbvio, qualquer atraso. Como vem sendo alertado pela Organização Mundial de Saúde há meses, e agora parece consensual entre as autoridades nacionais, o que temos entre mãos é um problema de produção das farmacêuticas e não um problema logístico do nosso Estado. É essa a origem da quebra no número de vacinas administradas, que está agora ao nível de há um mês (12 de janeiro). Mas quem nos pôs, enquanto comunidade, na mão das farmacêuticas?
É aqui que entra a responsabilidade política. Ursula von der Leyen já havia admitido há uns dias, no Parlamento Europeu, os erros do otimismo excessivo. Mas há um dogma que parece intocável para a Comissão Europeia: a quebra de patentes, para que se possa produzir a vacina de acordo com a capacidade instalada nos laboratórios mundiais e com as necessidades da comunidade, e não de acordo com os interesses de umas poucas empresas privadas. Foi a própria Organização Mundial de Saúde, não esqueçamos, quem há um ano fez o apelo para que tornassem públicas as patentes. Secundaram-na nessa posição organizações como os Médicos Sem Fronteiras, centenas de especialistas (recordando aliás o que alguns Governos fizeram no passado com as licenças compulsórias para doenças como a HIV ou a Hepatite C), alguns países, na Organização Mundial do Comércio, e até o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Ora, o que pensa disto o atual Presidente do Conselho de Ministros da União Europeia, que por acaso é António Costa? Aparentemente, nada. Quer dizer, publicamente, pelo menos, nada.
Desde há dois dias, o Coordenador do Plano de Vacinação, a Ministra da Saúde, o Primeiro Ministro e o Presidente da República têm lamentado, em coro, o atraso da vacinação, sublinhando contudo que este não é nossa responsabilidade, que “não está ao nosso alcance resolver o problema de produção”. É certo que não é responsabilidade do nossos SNS nem da nossa capacidade logística. Mas não estará ao nosso alcance intervir na questão da produção? Restar-nos-ia, então, cruzar os braços e deixar o problema às farmacêuticas?
A Pfizer anunciou aos seus acionistas, no início de fevereiro, que conta faturar 15 mil milhões de euros com as vendas relacionadas com a Covid-19. A Moderna 5 mil milhões. São várias as notícias que têm vindo a público de dúvidas sobre a gestão de stock feita pelas farmacêuticas e sobre eventuais práticas de especulação e venda em mercado paralelo, supostamente protegidas por normas contratuais que apenas as obrigam aos "melhores esforços" no cumprimento do que estava acordado, designadamente com os países europeus. A Comissão Europeia fez declarações indignadas, mas o aceno de litigância não comoveu as empresas.
Não é um cenário que não tivesse sido previsto. Apesar de o desenvolvimento das vacinas só ter sido possível com uma quantidade colossal de financiamento público (quer na investigação fundamental, quer na aplicação da tecnologia mRNA a estas vacinas, quer na cobertura do risco das empresas), estamos agora nas mãos das farmacêuticas e da sua produção a conta-gotas. Já em maio passado, 140 líderes mundiais tinham deixado o alerta: “O acesso às vacinas e tratamentos como bens públicos globais é do interesse de toda humanidade. Não podemos permitir que os monopólios, competição bruta ou nacionalismo míope se atravessem neste caminho.” Tinham toda a razão – mas o que “não podíamos permitir” é o que está, afinal, a acontecer.
Em Portugal, estávamos a contar com 4,4 milhões de doses até ao final do primeiro trimestre, e vamos receber menos de metade, ou seja, 1.980 mil doses. O impacto no plano de imunização é brutal, com os custos em termos de infetados e de vidas que poderiam, certamente, ser poupadas. Outros países do mundo, sobretudo no Sul Global, estão em condições muito piores que nós. Por isso, ou as farmacêuticas libertam as patentes por um preço razoável, ou então estas deveriam ser quebradas, como aconteceu já por várias vezes neste século, nomeadamente pelos EUA. Certamente que, mesmo assim, não vamos conseguir produzir, de um dia para o outro, todas as vacinas de que precisamos e tão rapidamente quanto desejamos. Mas o que dizer desta situação em que a capacidade produtiva instalada no mundo não está a ser utilizada, pela simples razão de que permitimos submeter-nos ao despotismo do mercado? Com o cenário sanitário em que estamos, e os brutais custos sociais e económicos da pandemia, como designar a perpetuação desta escolha, se não como um crime contra a humanidade?
Artigo publicado em expresso.pt a 12 de fevereiro de 2021