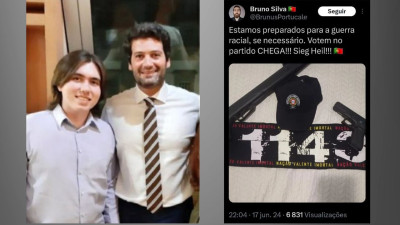A história da Segunda Guerra Mundial parece que acaba com o fim dos campos de concentração e a queda do regime nazi. Que as bombas atómicas foram o epílogo necessário (com ou sem aspas) para a paz. Que Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas, houve perdas humanas, mas não sofreram. Esta é a imagem pré-estabelecida… que está longe da realidade.
Na primavera de 1995, eu era estudante do terceiro ano de jornalismo na Universidade de Málaga. Manu Leguineche, indiscutivelmente o mais brilhante repórter internacional espanhol do século XX, juntamente com Manuel Chaves Nogales, deu uma palestra, e eu segui-o para lhe fazer perguntas sobre o Japão. Estava a ler “Os Anos da Infâmia” na altura, e ele recomendou-me que fosse a Hiroshima; no dia 6 de agosto, há três décadas, assinalava-se o 50º aniversário do lançamento da bomba atómica.
Aquela cobertura, que escrevi para a secção internacional do Diario 16, mudou a minha vida profissional. Impressionou-me a ausência de ressentimento dos hibakusha, que etimologicamente significa “pessoas bombardeadas”. Escutei as suas vozes; aqueles depoimentos que explicavam o momento da explosão e o que os tinha afetado. Eram rostos tristes, mas não via ódio.
Em 2023, publiquei Hiroshima: testimonios de los últimos supervivientes. Agora, em 2025, numa nova edição com prefácio de Sergio del Molino (Prémio Alfaguara de 2024) e um epílogo com a cobertura em Oslo do Prémio Nobel da Paz para a organização japonesa Nihon Hidankyo, composta por hibakusha, reivindico o valor das testemunhas, do fator humano, de conhecer a vida das pessoas que sofreram.
O estigma
Quantos hibakusha ainda estão vivos? Pela primeira vez, são menos de 100.000: 99.130 pessoas. A sua idade média é de 86,13 anos, segundo dados publicados em julho passado pelo Ministério do Bem-Estar do Japão.
Embora este número pareça elevado, não é assim se forem tidos em conta vários fatores. Por um lado, muitos têm problemas mentais – demência ou Alzheimer – e não conseguem partilhar as suas experiências. Por outro, a grande maioria não quer falar sobre o momento da explosão, e nem os seus amigos mais próximos sabem que são hibakusha. Não o disseram porque sofreriam um estigma se reconhecessem que eram sobreviventes. Além disso, falar sobre o assunto dificultava a procura de emprego e ter companheiros e filhos, por medo de que os filhos nascessem com algum tipo de sequela física. Não são muitos os que estão dispostos a partilhar as suas experiências.
É por isso que vale a pena mencionar o testemunho de pessoas como Takako Gokan. Quarenta anos após a explosão atómica, estava com Sekiko, a sua filha, numas termas japonesa quando reparou que as pessoas olhavam para as queimaduras nos seus braços, barriga e pernas. Sekiko cobriu-a rapidamente com uma toalha. Embora estivesse agora a salvo dos olhares e dos comentários, Takako decidiu naquele momento que não iria esconder o facto de ser uma sobrevivente. “As crianças conseguem ser cruéis”, contou-me Takako, recordando a sua infância. “Alguns não entendiam como é que eu podia estar bem quando os meus pais tinham morrido. Ser órfã era mal visto.”
Passado e futuro da bomba
O testemunho dos hibakusha é fundamental para compreender, 80 anos depois do bombardeamento de Hiroxima, o que aconteceu naquele dia de agosto, às 8h15.
O avião Enola Gay lançou Little Boy, a bomba que provocou a morte imediata de 70 mil pessoas, número que subiu para 140 mil no final desse ano. Até então, Hiroshima tinha uma população de 245.000 habitantes e a vida quotidiana era normal. Os efeitos da radiação, a chamada chuva negra, começaram a fazer-se sentir nessa mesma tarde.
Nagasaki, a grande esquecida, foi a destinatária da segunda bomba atómica, mas não tinha sido a primeira candidata depois de Hiroshima; Kokura era o destino original. Fat Man, assim se chamava o explosivo atómico, desceu de paraquedas, como se tivesse sido disparado por uma pistola com silenciador, sem pressas, do avião americano chamado Bock's Car até ao alvo. A viagem infernal durou 47 segundos. A bomba errou: explodiu a uma altitude de 500 metros e três quilómetros mais para o interior do que o previsto, em parte devido ao clima. Em Hiroshima, tinha sido lançada sem paraquedas.
Antes de tudo isto, com uma população dizimada e depois de os Estados Unidos terem bombardeado Tóquio, o Japão estava à beira da rendição. Mas, naquele momento, a nação americana e a União Soviética estavam imersas na fase seguinte. Estavam, de facto, a dividir o tabuleiro de xadrez geopolítico do pós-guerra.
As bombas atómicas não eram inevitáveis. Barton J. Bernstein, professor de História na Universidade de Stanford, observa que, com base nas memórias do pós-guerra do Almirante William Leahy e do General Dwight D. Eisenhower, entre outros, começaram a surgir dúvidas sobre a sua utilização na guerra:
“Com o passar dos anos, os americanos deram conta que as bombas, de acordo com cálculos militares de alto nível feitos em junho e julho de 1945, provavelmente não teriam salvo meio milhão de vidas em invasões, como Truman por vezes afirmava depois de Nagasaki, mas menos de 50.000.”
O impacto que os dispositivos teriam na vida dos residentes de Hiroshima e Nagasaki também não foi totalmente avaliado. Foram precisos cinco ou dez anos para que o termo hibakusha começasse a ser utilizado. A imprensa não publicava muita informação sobre eles, pelo que os cidadãos não sabiam muito sobre o que tinha acontecido.
Até 1957, não houve nenhum tipo de apoio aos sobreviventes. Seguiram-se instruções emitidas pelos Estados Unidos (que ocuparam o país desde o fim da guerra até 1952) e o governo japonês também não lhes prestou muita atenção. Agora, têm direito a um check-up médico duas vezes por ano. Conseguiram também apoio económico que depende do tipo de doença, variando entre 30.000 a 100.000 ienes.
Em 1967, o psiquiatra norte-americano Robert Jau Lifton publicou “Morte em Vida: Sobreviventes de Hiroxima”, uma obra fundamental que investiga a saúde mental daqueles que viveram para contar a história da bomba, um assunto amplamente desconhecido até então. Cunhou o termo que identificava o “adormecimento psíquico” sofrido pelos hibakusha. Defendeu que o uso de bombas atómicas era desnecessário:
“O Japão estava totalmente devastado. Tínhamos bombardeado todas as cidades importantes com armas convencionais. E, como sabem, morreram mais pessoas nos ataques a Tóquio do que em Hiroshima. Na minha opinião, não era necessário usar armas nucleares para acabar com a guerra.”
O escritor japonês e Prémio Nobel da Literatura Kenzaburo Oé, em “Os Cadernos de Hiroshima”, diz:
“Vi coisas em Hiroshima que se assemelhavam muito à pior humilhação, mas, pela primeira vez na minha vida, ali conheci as pessoas mais dignas.”
Atualmente, existem 4.000 ogivas nucleares na Terra prontas para serem lançadas. Esta é a grande ameaça que paira sobre a humanidade neste momento. Os hibakusha conhecem este perigo melhor do que ninguém. E doí-lhes recordar. A segunda e a terceira gerações de sobreviventes, os filhos e netos de Hiroshima, estão a continuar o testemunho dos mais velhos e a alertar-nos para isso.
Por isso, é importante recordar a cultura que molda claramente a identidade das duas cidades bombardeadas, agora emblemas do pacifismo internacional. Como diz o cenotáfio no Parque da Paz de Hiroshima: “Não repetiremos este erro.”
Agustín Rivera Hernández é professor de jornalismo na Universidade de Málaga.
Texto publicado originalmente no The Conversation.