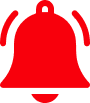A utilização de armas químicas contra a população civil é um dos episódios mais desconhecidos da história colonial espanhola no Norte de África.
O motivo desta ausência é duplo. Por um lado, o Protetorado de Marrocos ocupou um lugar secundário na memória histórica dos espanhóis. Geralmente vinculada a derrotas militares, como as de Barranco del Lobo (1909) e Anual (1921), e a algumas vitórias, como a de Alhucemas (1925), a história do Protetorado (1912-1958) tende a aparecer nas narrativas espanholas quando os acontecimentos em África têm um impacto direto na Península Ibérica.
Em segundo lugar, o uso de gás mostarda contra a população civil na década de 1920 foi um ato de guerra ilegal, contrário às convenções internacionais de que a Espanha era signatária, pelo que os governos espanhóis tentaram mantê-lo oculto.
O facto de o grande público desconhecer a utilização de armas químicas na Guerra de África não significa que os historiadores não se tenham debruçado sobre o tema. Os estudos de Sebastian Balfour, María Rosa de Maradiaga, Carlos Lázaro e, mais recentemente, Daniel Macías analisaram um dos aspetos mais obscuros da guerra colonial.
Estes historiadores concordam que o que levou os espanhóis a optarem pela utilização de armas químicas foi um misto de desejo de vingança contra os rifenhos, nomeadamente após o Desastre Annual, e de pragmatismo militar, uma vez que a utilização de gases tóxicos permitia reduzir o número dos seus próprios soldados envolvidos no conflito e, consequentemente, a quantidade de baixas.
Embora se tenha argumentado que a Espanha foi o primeiro país a utilizar armas químicas contra civis, é difícil afirmá-lo categoricamente. Os britânicos foram acusados de utilizar gás venenoso contra a população rebelde na Mesopotâmia (atual Iraque) em 1920, mas parece que, por razões técnicas, não o puderam fazer.
A guerra de África
A Guerra do Rife teve a sua origem na expansão colonial europeia no Norte de África em princípios do século XX. Os tratados de Algeciras (1906) e de Fez (1912) criaram um protetorado espanhol e outro francês no norte de Marrocos. As tensões com as tribos rifenhas foram constantes no protetorado espanhol desde o princípio e o exército viu-se obrigado a mandar para África um grande número de soldados de substituição.
Em Espanha, a guerra tornou-se rapidamente muito impopular, sobretudo entre as classes mais baixas, que não podiam pagar para se livrar do serviço militar. Em julho de 1909, uma mobilização de tropas decretada pelo governo de António Maura deu origem a protestos virulentos em Madrid e Barcelona, que resultaram na Semana Trágica na capital catalã.
Nos anos seguintes, os confrontos e as escaramuças entre espanhóis e rifenhos foram constantes. Em 1921, a revolta dos cabilas rifenhos estendeu-se à maioria do protetorado espanhol. Em julho desse ano, uma tentativa de ampliar o domínio territorial do protetorado, liderada pelo general Manuel Fernández Silvestre, acabou com uma estrondosa derrota, a morte de cerca de 8.000 espanhóis e uma profunda crise política na Península Ibérica.
A decisão de utilizar armas químicas no conflito foi tomada em finais de 1921, após o desastre de Annual. Inicialmente, a Espanha tinha um problema fundamental: não tendo participado na Primeira Guerra Mundial, não dispunha de um arsenal de gases tóxicos.
Porém, os espanhóis aprenderam rápido e, em junho de 1922, o Comando Geral em Melilla tinha instalado uma oficina para produzir “projéteis de gás” para os canhões que bombardeavam o inimigo a partir de posições terrestres.
Em outubro desse ano, o rei Afonso XIII patrocinou uma comissão na qual se propôs que a aviação utilizasse armas químicas. Poucos meses mais tarde, os pilotos espanhóis começaram a bombardear os rifenhos com gás mostarda. Inicialmente, as ações da força aérea espanhola não foram muito numerosas. A força aérea não dispunha de muitos aviões e as bombas escasseavam.
Ditadura militar
Mas as coisas mudaram consideravelmente com a chegada ao poder do ditador Miguel Primo de Rivera, em setembro de 1923, que atribuiu especial importância à utilização de armas químicas. Em poucos meses, a Ditadura aumentou significativamente o número de bombardeamentos aéreos. Em 1924, de acordo com um relatório do subsecretário do Ministério da Guerra, as fábricas de armamento “foram postas a trabalhar dia e noite”, chegando a produzir “350 bombas por dia” na Fábrica de Artilharia de Sevilha.
A utilização de gases tóxicos, em particular o iperite, e de bombas incendiárias aumentou. No início de 1924, chegaram a Melilla técnicos alemães para ajudar no fabrico de armas químicas. No final de 1924, a Espanha iniciou a produção sistemática de bombas de iperite para a aviação.
Embora não tenha sido a primeira nem a única, uma fábrica importante foi a de La Marañosa, nos arredores de Madrid. Durante a ditadura de Primo de Rivera, destacou-se na produção de gases tóxicos por parte de engenheiros alemães. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades de Franco permitiram que técnicos nazis reconstruissem a fábrica para fornecer armas ao exército alemão.
A utilização de armas químicas tornou-se mais relevante em 1924 e 1925, quando as tropas espanholas se retiraram para uma área relativamente pequena do Protetorado. A denominada Linha Estella deixou três quartos do território espanhol nas mãos dos rifenhos, o que permitiu ao Exército de Primo Rivera utilizar gás mostarda em vastas áreas controladas pelos rebeldes.
Os aviadores espanhóis bombardearam as aldeias e os souks no dia do mercado ou na véspera, de modo que, dada a persistência do iperite, o local ficava contaminado durante duas ou três semanas.
A utilização sistemática da iperite, que provoca queimaduras na pele, inflamação dos olhos, cegueira, vómitos e, evidentemente, asfixia, contra a população não combatente, mostra a pouca consideração que Primo de Rivera e os seus oficiais tinham pelos civis rifenhos.
Desumanização e brutalidade
Como em tantos outros casos do colonialismo europeu no início do século XX, muitos espanhóis consideravam a população colonizada como uns animais bárbaros e incivilizados, que não chegavam à categoria de seres humanos. Este processo de desumanização foi fundamental para poder gasear mulheres e crianças sem, segundo os dados de que dispomos, protestos significativos entre os oficiais espanhóis.
Os rifenhos, por sua vez, responderam com alto nível de brutalidade. Os prisioneiros espanhóis eram frequentemente usados como escudos humanos contra os bombardeamentos da aviação colonial. Também não faltaram decapitações de pilotos espanhóis capturados pelas tropas de Abd-el-Krim – o líder da resistência contra as administrações coloniais de Espanha e França durante a guerra. Este tipo de ações, somadas à fama de traidores que as tribos Rife tinham, intensificaram a ideia do marroquino como um selvagem que devia ser civilizado pelo colonizador europeu.
A utilização de gases tóxicos começou a reduzir-se após o sucesso espanhol no desembarque de Alhucemas, em setembro de 1925. À medida que as tropas espanholas foram recuperando território, a utilização de armas químicas tornou-se menos prático devido, precisamente, à contaminação que produzia no terreno bombardeado.
O fim da guerra em julho de 1927 significou o abandono da utilização dos gases. Ficaram para trás milhares de rifenhos e espanhóis mortos e milhares de marroquinos com queimaduras, cegueira e doenças respiratórias. Além disso, ficou também para trás a memória de uma guerra selvagem, em mais de um aspeto, que veio a forjar uma parte fundamental da história da Espanha no século XX.
Alejandro Quiroga Fernández de Soto é investigador na Universidad Complutense de Madrid.
Texto publicado no The Conversation. Traduzido por Carlos Carujo para o Esquerda.net.