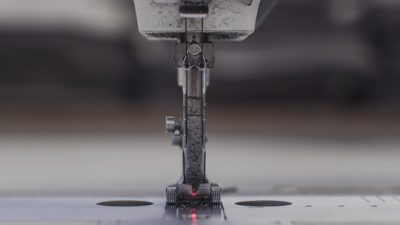Publicaste em 2014 o teu primeiro romance, ganhaste o prémio LeYa nessa altura. Desde aí, o que mudou no exercício da escrita? Passou a existir a figura do leitor?
Não de um, mas de milhares, que eu não conseguia dominar. Um leitor já eu tinha – família, amigos – e com isso lidava muito bem. A partir do momento em que o livro é publicado, começa a surgir a ideia de que não é um número limitado de leitores que eu consiga controlar, mas sim de vários leitores que eu não conheço. E com centenas de cabeças. Depois da publicação de O Meu Irmão não tive isso em conta, mas passei a tê-lo quando me vi confrontado com a necessidade de escrever – não de publicar ou de ter um segundo romance –, mas de escrever, de fazer o que me realiza. Uns meses depois de O Meu Irmão, começou a pesar. Foi complicado reconquistar um número de leitores limitado, ou seja, reconquistar a minha liberdade de escrita. No início julgava que não ia ser, que tinha maturidade suficiente para isso, mas acabei por ter de fazer essa aprendizagem. Passaram-se alguns meses neste jogo de avanços e recuos que se aliaram aos avanços e recuos da própria escrita, de uma ideia para um livro, que não surgiu de imediato. Mas o tempo foi passando, a necessidade de escrever sobrepôs-se à ideia de leitor e finalmente consegui reconquistar a liberdade de escrever sozinho. Essa liberdade é essencial. Não pensar em nada nem ninguém, nem em mim nem nos outros, pensar simplesmente na história. E, no caso concreto do Pão de Açúcar, conseguir entrar na mente das personagens. Não apenas no narrador, mas também nas outras. Este processo foi moroso e complicado, mas está ultrapassado.
E como surgiu? O primeiro era sobre um tema muito próximo, que te doía, e este é um tema com o qual não tinhas qualquer proximidade.
Não tinha afinidade nenhuma com o tema. O caso Gisberta deu-se em 2006 e a única afinidade era uma memória quase pessoal, de adolescência, de me lembrar do caso e do impacto que teve e de como me marcou e a muitas outras pessoas. Na altura, impressionou-me que alguns deles tivessem a mesma idade que eu. A impossibilidade de um grupo de jovens a bater na Gisberta chocou-me muito. Depois ficou mais ou menos esquecido. Até que, há sensivelmente três anos, li uma reportagem que repescava o caso e foi como ser atingido por um raio. Li-a não só pelo que estava lá, mas pelo que podia estar. Não só pelos factos, mas pelo que leva aos factos. Não só pela Gisberta, mas pelo que a Gisberta desperta nas personagens e pode ter despertado naquele âmbito. Isto para mim foi momentâneo, imediato. Nessa altura, estava a escrever outro livro, que talvez venha a retomar, e abandonei-o sem mais.
A impossibilidade de um grupo de jovens a bater na Gisberta chocou-me muito. Depois ficou mais ou menos esquecido.
Vi-me confrontado com o que dizes. Não conheço a história, não é uma realidade que acompanhe em particular, não conheço os intervenientes, nada. E para escrever é preciso dominar totalmente uma história, ou pelo menos ter a ilusão de que se domina.
A partir da reportagem, percebi os intervenientes, consegui identificar nomes, locais, e comecei um processo de pesquisa, que foi um pouco jornalístico, de ir ao sítio, ir ao Pão de Açúcar, o local onde a Gisberta estava a morar, ir à sua última morada antes do Pão de Açúcar, conhecer amigas dela, os locais que frequentava, enfim, puxar o fio à meada. E depois ler muito à volta do assunto, ler casos concretos. Isto ajudou-me a entrar na mente das personagens e a sentir que dominava o assunto, ou pelo menos que tinha lata suficiente para começar a escrever. A certa altura, a história era minha.
Lendo o livro, torna-se meio difícil descortinar a parte verídica da ficção. Como trabalhaste isso?
Fiz uma estrutura, um pouco à americana. Os americanos têm a mania de dizer que é preciso um outline, ou seja, uma estrutura. E comecei justamente por isso.
No caso de O Meu Irmão, foi mais ou menos intuitivo e até meio do livro não sabia o fim. Neste caso, a história está ligada à realidade, havia determinados limites que não podia ultrapassar, e usei a realidade como esqueleto. A realidade explica muito pouco... Há uma certa impossibilidade num grupo de rapazes de sensivelmente 12 anos que descobre a Gisberta numa cave e começa por ajudá-la. E depois acaba em violência. Isto para mim era uma impossibilidade. Aqui é que estava a literatura.
A realidade explica muito pouco... Há uma certa impossibilidade num grupo de rapazes de sensivelmente 12 anos que descobre a Gisberta numa cave e começa por ajudá-la. E depois acaba em violência. Isto para mim era uma impossibilidade. Aqui é que estava a literatura.
Portanto, pego numa história real e construo personagens à volta dela. Quais eram as intenções, que relações de poder tinham entre si? E depois tentei que Gisberta fosse um elemento catalisador.
A relação entre as personagens, as biografias delas, foi tudo ficção?
Alguma biografia da Gisberta é baseada em factos reais. Sabemos que veio de São Paulo muito nova, passou por França, que esteve em Lisboa, que esteve 20 anos no Porto, sabemos os sítios onde viveu, sabemos da prostituição e da droga. Isso é real. Mas partir de determinado ponto a realidade é limitativa. Não se faz boa ficção com realidade. Faz-se boa ficção com ficção. Quer dizer, pensando como as personagens. Isto partindo do princípio que fiz boa ficção, pelo menos o objectivo era esse.
Com respeito pelas limitações impostas pela realidade, quis que as personagens actuassem. Para isso, era preciso que a história tivesse um enfoque especial nos rapazes. A história resulta na perspectiva deles, como viam a Gisberta, como a encontraram, como lidaram com ela, e como é que as coisas descambaram. Foi um desafio muito grande, porque era tentar pôr-me na pele dessas pessoas. Um desafio duro.
A história resulta na perspectiva deles, como viam a Gisberta, como a encontraram, como lidaram com ela, e como é que as coisas descambaram. Foi um desafio muito grande, porque era tentar pôr-me na pele dessas pessoas. Um desafio duro.
Nos agradecimentos, dizes que a repórter Catarina Marques Rodrigues já conhecia o princípio e o fim, mas não o meio. Esta é a história de um crime, mas quem parte para a leitura do livro já conhece o fim. Mesmo assim, através da humanização das personagens e de teres posto o foco na forma como elas viam a figura sobre a qual cometeram o crime, conseguiste fazer com que o leitor se entusiasmasse com a leitura, querendo perceber não o facto, mas o que o motiva.
Sim, perceber o que leva aos factos. Aí é que se encontra a ficção. Conseguir estar na pele do Rafa, do Samuel, do Nélson. E compreender as relações de amizade, de aproximação e afastamento. A própria Gisberta, em relação ao Rafa, é uma figura enigmática, que ele acarinha, que inicialmente ajuda. Como se passa disto para a violência? Este estranhamento foi essencial. Sem ele, não se fazia o livro. E isto não equivale a dar uma explicação racional para a violência, muitas vezes tem mais uma explicação emocional. Essa abordagem emocional, embora a escrita não seja emocional, é que está no centro da ficção.
Como se passa disto para a violência? Este estranhamento foi essencial. Sem ele, não se fazia o livro.
E conseguiste evitar isso tornando a violência operante no livro (machismo, dureza no trato, a forma como os rapazes chegam a gozar com a Gisberta), evitando que aparecesse de forma gratuita.
A partir da semana final, tentei que a história fosse muito chegada à realidade, embora os actos de violência não sejam gratuitos. A violência gratuita não tem sentido, não interessa. O que não quer dizer que não haja violência. Há, houve, foi real e atroz. Mas num romance não pode surgir do nada. Surge de tudo isso que descreves mas não quis que fosse apenas violência cega. Morrer às mãos de amigos é muito pior do que morrer às mãos de desconhecidos. E o grupo inicial de facto ajudou-a durante semanas. Isto para mim era inconcebível. Foi sobre isto que tentei construir a ficção.
Morrer às mãos de amigos é muito pior do que morrer às mãos de desconhecidos. E o grupo inicial de facto ajudou-a durante semanas. Isto para mim era inconcebível. Foi sobre isto que tentei construir a ficção.
A violência é uma forma de explicar a vida deles. Não só o que fizeram, mas o contexto em que estavam. A própria instituição onde eles viviam acabou passado poucos anos por suspeita de pedofilia e agressões entre rapazes. A violência existe e estava lá. E claro que o trabalho da linguagem foi importante para transparecer isso que dizes. Tentei que, com excepção de um ou dois capítulos, cada capítulo fosse imprescindível. Se sair, a história fica coxa, não se percebe o próximo passo. São pequenos incrementos para levar à sequência final. Nesse âmbito, qualquer acto de violência, ou de amizade, é operante.
O livro foca uma história de uma pessoa transexual. Ao lê-lo, consegui perceber a forma como a interiorização da masculinidade por parte dos rapazes acaba por lhes roubar a infância e por incentivar essa violência.
Sem dúvida. A Gisberta confronta-os com isso. Penso que já estaria latente, eles estavam confrontados com as raparigas, com eles próprios, mas a Gisberta confronta-os ainda mais, particularmente ao narrador, o Rafa. Porque se sente atraído por aquela figura e, ao mesmo tempo, retraído. E a definição em relação a Gisberta é importante. A indiferença do Nélson. O processo de afastamento e aproximação do Rafa e a inocência do Samuel, talvez o único que, embora já a conhecesse e fosse seu amigo, não se confrontava com ela. Tem outras formas de expressão, como o desenho. Passa pelo livro mais ou menos incólume. Já o Rafa, não. Estas lógicas internas das personagens fizeram disparar a minha cabeça.
De um livro sobre uma tema da tua vida passaste para outro que foste investigar. Achas que a tua relação com a literatura ou a matéria do texto mudou?
Foi este livro que fez de mim escritor. Dizer isto é um bocado uma traição ao primeiro livro e não quero fazer isso. Mas foi este. O Meu Irmão foi inevitável. Mais cedo ou mais tarde teria de o escrever, foi-me dado pelas circunstâncias. Decidi despachar logo o assunto. Mas tive de conquistar este. E conquistar contra a tal figura do narrador, o tema, o meu desconhecimento da área, contra a própria linguagem, contra tudo. E voltámos ao início da nossa conversa. Perguntavas sobre a figura do leitor e disse-te que me vi confrontado com ela e que a determinada altura tive de fazer o processo de reaprendizagem de estar sozinho e ter liberdade a escrever.
A determinado ponto, decidi não só reconquistar essa liberdade como tentar arranjar o tema que me fosse mais estrangeiro. Foi o maior desafio possível.
Na verdade, encontrar este tema em específico foi um acaso. Li a tal reportagem e foi imediato, mas estava predisposto a escrever um segundo romance totalmente diferente do outro e que me desafiasse.
E tens um olhar mais distanciado?
Curiosamente, não. Sonhei com o livro, durante meses e meses foi o meu único trabalho. Estive tão ou mais próximo da história como com o outro. Porque o despojamento da escrita foi igual. Estive sozinho. E portanto a história é tão minha como a outra.
E em relação ao texto?
Em relação ao texto e às personagens. Não à temática. Senti-as como minhas, como estando presentes, sabia o que tinha de dizer por elas. É uma relação próxima. E o trabalho da linguagem foi diferente. Parti da tal estrutura. Controlei muito mais a escrita. Achava que conseguia contar a história em 57 capítulos, consegui em 56. Achava que conseguia contá-la em 60 mil palavras e saíram 60 mil e 300. Portanto, foi muito diferente, muito mais controlado. Podias dizer que foi mais cerebral. Não. Foi mais controlado no planeamento, mas igualmente livre no acto de escrever.
Ainda bem que falas do trabalho de linguagem. No primeiro, escreves sob o ponto de vista de um homem adulto professor universitário, o que assumo que te dê muita liberdade para escrever da forma que te apetece, usando todos os malabarismos textuais e literários e referências culturais. Neste caso, escreveste sob o ponto de vista de um rapaz que pouco estudou. Ainda assim, és um leitor e um escritor, tens domínio da linguagem. Ao ler, nota-se o contraste entre as descrições, de alguém que sabe escrever, e depois o uso do calão na oralidade. Ao ler, não senti qualquer clivagem. Como trabalhaste isto?
A nota inicial ajuda nisso. Justifica que a primeira pessoa seja uma primeira pessoa filtrada. É evidente que houve esforço de aproximação da linguagem, mas estamos perante a figura de um autor que decide escrever por uma personagem. E isso está na primeira nota. Há uma certa estratégia literária nesse sentido. Concordo plenamente contigo quando dizes que o diálogo é mais directo, mais rude, não havendo tanto calão na narrativa. Mas a personagem narradora não é exactamente o interveniente na história. Esse é o Rafa de 12 anos. O Rafa narrador é um homem de 20 e tal anos. E isto ajuda a balizar. Aquilo é uma confissão.
Já O Meu Irmão era.
Exactamente. Pode ter sido mais conseguido ou menos em determinados pontos, mas o trabalho da linguagem não passou só pelo calão – específico do Porto –, mas também pela rapidez das sequências, por definir cada capítulo como uma cena e por coisas muito pequenas. Por exemplo, em todo o livro, narrado pela Rafa, só há um advérbio de modo, e é o único que podia lá estar.
Qual é?
Plenamente. Sentia-se plenamente qualquer coisa [p. 114]. De resto, nos adjectivos, fui o mais contido possível. Portanto, não passa só pelo calão. Dizias que o narrador de O Meu Irmão estava livre para referências culturais. Este não. Não referências a livros, pelo menos de forma explicita. Uma ou outra de forma implícita, sim. Tal como não há referências a contextos políticos e sociais alargados, até porque os rapazes têm doze anos e estão abandonados uns aos outros.
não há referências a contextos políticos e sociais alargados, até porque os rapazes têm doze anos e estão abandonados uns aos outros.
E a vida é aquela coisa curta.
Sim. Entre a instituição, a escola, o Pão de Açúcar. Depois os capítulos do passado da Gisberta foram difíceis de enquadrar, mas justificam-se porque são relatos em segunda mão. É o Rafa que conta o que a Gisberta lhe contou. E isto aprofunda a trama.
Quando escrevi a recensão ao teu livro, escrevi no que no primeiro havia “tendência para se contemplar o olhar demorado” e no segundo “para se saber onde é que cada olhar encaixa”. É como dizes, há mais acção, um capítulo leva ao outro. Foi mais divertido?
Muito mais divertido. Paradoxalmente, porque o tema é sensível, mas foi muito mais. Há mais acção, há mais personagens, conseguia delimitá-las bem e perceber onde encaixavam. E a certa altura parece que as personagens viviam por si. Claro que não vivem, mas parecia, porque estavam bem delimitadas. E conseguia deixá-las actuar. Isto tendo sempre em conta a estrutura da realidade. Por outro lado, como a escrita exigiu investigação e trabalho de campo, foi mais divertido. Gosto de pôr as mãos na massa, ir aos sítios, pôr sítios reais na história, as ruas, as datas. Por exemplo, a certa altura, estão a ver um reality show. É como pano de fundo, mas esse reality show passava na televisão na época. Espero que o leitor não repare, que fique simplesmente latente como eco daquele ano.
Não senti que a humanização das personagens servisse para desculpar a agressão. Temes que isso possa acontecer?
Sim, temo. Mas não é. Não tento explicar um acto de violência. Não quero de maneira nenhuma justificar isso. Simplesmente, as personagens existem, actuam, relacionam-se. É um facto, por exemplo, que houve um grupo de rapazes que encontrou Gisberta semanas antes dos acontecimentos e levou arroz. O que é que isto foi? Como é que se precedeu? Por outro lado, também não quero moralizar. Quero que as personagens actuem.
O que é que isto foi? Como é que se precedeu? Por outro lado, também não quero moralizar. Quero que as personagens actuem.
Encontrar a verdade no meio da ficção?
Ou a ficção no meio da verdade, não sei bem.
Sendo um livro que mescla as duas coisas e sendo parte do que lá está inventado, a um ponto em que nunca ninguém saberá o que é que dali tu inventaste, aquilo é ao mesmo tempo uma procura pela verdade, nem que fosse uma verdade possível.
É uma procura por aquelas verdades. A verdade da Gisberta, a verdade dos agressores. E aquelas verdades em confronto. Isto é que é terrível. Encontrar o equilíbrio foi complicado. Mas quis justamente isso, humanizar todas as personagens, tirá-las dos chavões. Porque chavões não são literatura.
É uma procura por aquelas verdades. A verdade da Gisberta, a verdade dos agressores. E aquelas verdades em confronto. Isto é que é terrível. Encontrar o equilíbrio foi complicado. Mas quis justamente isso, humanizar todas as personagens, tirá-las dos chavões. Porque chavões não são literatura.