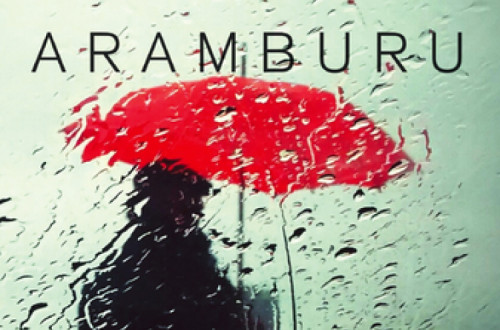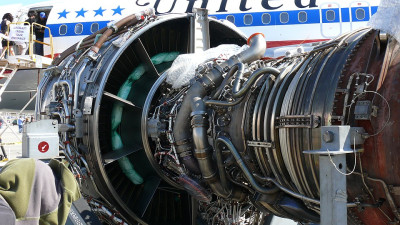Grandioso. Eis o que pode dizer-se sobre Pátria (D. Quixote, 2018), de Fernando Aramburu, e note-se que o adjectivo em nada diz respeito às 716 páginas que se lêem vertiginosamente. Os capítulos curtos, embora nunca superficiais, dinamizam a leitura, explicam personagens, dão-lhes densidade, num back and forth que logo prende o receptor do texto.
Aramburu nasceu em 1959, ano em que a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) foi fundada, tendo vivido o conflito liderado pela organização até aos 25 anos, razão pela qual o tema de Pátria lhe é tão próximo. O romance, publicado pela primeira vez em Setembro de 2016, foca-se em duas famílias que, na altura em que a ETA anuncia largar a luta armada (2011), enfrentam as sequelas do passado, as mortes, as traições, os lutos. As nove personagens vão sendo desfiadas ao longo de 125 capítulos.
Os mais de 30 anos do País Basco sob conflito não são apenas panorama, mas o livro está longe de ser panfletário. A política existe, é tratada, deixa marcas, mas Aramburu evitou a caricatura ou a ficção professoral. É que a narrativa foi beber à vida do autor, às suas experiências, a reais tensões sociais, políticas e pessoais que marcaram gerações. E, por muito que as personagens estejam bem delineadas, a prosa também ultrapassa largamente a história ficcionada de duas famílias em conflito. Ao invés disso, é um retrato social forte em que a complexidade psicológica das personagens não é de somenos. É o próprio autor quem diz que não “se socorre de questões filosóficas ou poéticas para a construção dos textos”. Ao invés disso, concebe “um romance como uma criação de personagens ativos que convivem e com este exercício necessariamente surgem histórias” (agência Lusa, Março de 2018). Sendo assim, defende Aramburu, é normal que um romance extrapole o que seria expectável num trabalho de sociologia ou de história ou num ensaio.
Em Pátria, o fio condutor da narrativa são as sequelas da execução de Txato, empresário, marido de Bittori, ocorrido no auge da vaga de assassinatos. Em 2011, já Bittori se vê obrigada a coexistir com os carrascos, querendo um pedido de perdão por parte de quem lhe matou o marido. Afinal, como conviver com quem lho roubou, fanático, quem a perseguiu antes e após o atentado? Como conviver com Miren, antiga amiga íntima, mãe de Joxe Mari, um terrorista já preso e suspeito de ter assassinato Txato? É impossível esquecer e sem esquecimento ferida nenhuma sara, antes cria o ensimesmamento, antes infecta. Eis pois o rodopio das tensões cruzadas, os rancores, numa narrativa em que nada é definitivo, tudo parece fugaz, embora as consequências dos actos não se esvaiam. A sustentá-la, as convicções duras que acicatam o terrorismo, a dureza dos derrotados que recusam a vergar-se, a dureza dos derrotados que exigem o arrependimento, o pedido de perdão, a consciência do mal que foi feito, a última palavra, o fanatismo do nacionalismo, o poder da igreja católica, tudo desfiado numa prosa escorreita, de ritmo dinâmico, com personagens densas, múltiplas, contrariando a facilidade que seria o proselitismo, a literatura panfletária.
Será ainda de notar a forma como o término do conflito quase se torna intimamente indiferente perante as sequelas pessoais, as tragédias familiares que deixou para trás. O fim da luta armada não é o fim dos conflitos internos, o que fica por resolver extrapola as divergências políticas, o terrorismo, o crime, ou seja, o marido continua morto e é com o luto de uma viúva que o leitor se depara, assim como com a única forma plausível de ter paz.
O conflito não passa para segundo plano, porque é inerente ao eixo central da acção, mas o leitor perde-se nas vidas das personagens, montadas enquanto gente, não enquanto engrenagem da narrativa, consoante a memória do autor, aleatória, sobre as histórias de cada uma delas. As feridas que as décadas foram largando pelos anos vão aparecendo aos poucos, atando as pontas, construindo uma constelação em cada personagem. Não apenas as sequelas do terrorismo, mas os resquícios de amor, da falta dele, de traições, de desenganos, de impaciência, de resignação, da poeira que a vida foi largando, do entulho que deixou, e das brechas criadas pelas interacções entre os diálogos e os silêncios. E, dentro disto, tudo a eito: as posições instrumentalizadas, as zangas que são uma avalanche de relações que pareciam aço, as memórias de infância que não adivinhavam o porvir, os conflitos familiares, as vinganças toscas, as opiniões extremadas, pretensamente moralizantes, as torturas dos presos, o tédio dos presos, a prévia violência como combate a esse tédio, a inutilidade da violência, o plano megalómano de um país que cai no vazio quando o perpetrador se apercebe de que meteu a vida num buraco e cometeu crimes em nome de, afinal, pouca coisa.
Ao longo do romance, a voz do narrador é interrompida, ou completada, pelas vozes das personagens, quase numa espécie de discurso directo via discurso indirecto. Nota-se, contudo, ao longo da leitura, que o principal objectivo não terá sido estético. Não que haja frases de efeito fácil, mas não há um esforço pela poeticidade, pela linguagem metafórica, pelo que for. Há uma linguagem incisiva, pouco floral, quase esquemática, que cumpre o propósito de entrelaçar histórias.
Finalmente, é aqui deixada uma nota sobre a forma como, no capítulo “Se derem vento à brasa”, Arumburu parece emprestar a voz a Xabier, usá-lo para uma declaração auto-referencial: “Parecia-lhe que até à data as vítimas do terrorismo tinham merecido pouca atenção por parte dos escritores bascos. Interessam mais os vitimários, os seus problemas de consciência, as suas retaguardas sentimentais e tudo isso. Aliás, o terrorismo da ETA não serve para atacar a direita. Para isso é muito melhor a guerra civil”. Com este livro, e apesar de haver críticas em sentido contrário, Aramburu põe de lado as retaguardas sentimentais, ainda que não deixe ao deus-dará as ideias, ou os ideais, que levaram ao cometimento das acções terroristas. Em simultâneo, põe no cerne da narrativa as catástrofes pessoais criadas por essas acções políticas, mostrando que, mesmo quando a acção da ETA amainou, as feridas familiares permaneceram intactas.