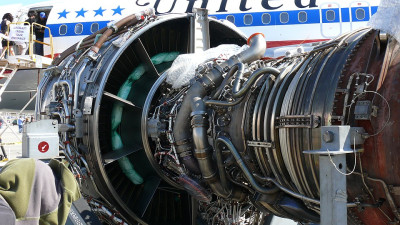1. Marchas do orgulho: um movimento de milhares em todo o país
Em 2022, realizaram-se mais de vinte marchas LGBTQI+ em Portugal. Às marchas de Lisboa e do Porto, com uma história mais antiga (a primeira estreou-se em 2000, a segunda em 2006, na sequência da morte de Gisberta), somaram-se as de Sintra, Aveiro, Bragança, Faro, Guimarães, Coimbra, Ponta Delgada, Barcelos, Braga, Santarém, São João da Madeira, Leiria, Vizela, Funchal, Viseu e, pela primeira vez, Covilhã, Caldas da Rainha, Esposende, Setúbal, Famalicão. Um arco-íris atravessa o país em manifestações que são, em algumas localidades, as maiores desde o tempo do “Que se Lixe a Troika”, que em 2013 chegou a 40 cidades. Estas marchas são ainda mais marcadas pela presença juvenil e não são, como aconteceu então, uma irrupção no espaço público em resposta a uma conjuntura muito particular, mas um movimento contínuo, que cresce todos os anos em número de pessoas e extensão territorial. Em todo o país, os ativistas do Bloco têm sido parte importante deste movimento, apoiando a convocatória, a organização e a solidariedade entre as marchas.
2. Orgulho que enfrenta o conservadorismo
Para lá do enraizamento no território, nomeadamente em lugares com pouca tradição contestatária, as marchas têm vindo a articular agendas políticas, conjugando a luta pela liberdade com a luta contra as várias formas de opressão e de exploração. São, ao mesmo tempo, cada vez mais políticas e cada vez mais festivas, por fazerem da celebração um protesto e da reivindicação política uma festa, por serem afirmação coletiva e encontro no espaço público.
O movimento LGBTQI+, a par com o movimento feminista, tem sido o grande movimento de resposta internacional ao crescimento do conservadorismo e da extrema-direita. Esta tendência foi visível na organização das primeiras linhas de resistência à eleição de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, personificações grotescas do patriarcado e do preconceito sexual e de género. Ainda que com caraterísticas diferentes, vagas de denúncia e mobilização contra o assédio e a violência, sob o mote #NiUnaMenos ou #MeToo e o movimento “Ele Não” no Brasil (sobretudo depois do assassinato de Marielle Franco) foram precursoras de amplas mobilizações pela democracia. A estas juntaram-se velhas e novas causas como a defesa do direito ao aborto, com vitórias e derrotas (na Argentina, EUA ou Polónia), o combate à violência machista, homofóbica e transfóbica e a luta das pessoas trans por mais reconhecimento e direito à sua identidade e autodeterminação de género. Em Portugal, feminismo, luta LGBTQI+ e anti-conservadorismo são motivos maiores da mobilização à esquerda das gerações mais jovens.
BALANÇOS E MEMÓRIA DE UM MOVIMENTO EM CRESCENDO E COM VITÓRIAS
3. Portugal nos “longos anos sessenta”
Desde 1969, com a “revolta de Stonewall”, nos Estados Unidos da América, a resposta coletiva à repressão trouxe a experiência da dissidência sexual e das vivências LGBTQI+ para o espaço público e para o campo político. Em vez de um problema privado e de uma “aflição” para ser vivida em registo de sofrimento individual, a vergonha internalizada e escondida passou a ser vencida através do reconhecimento de uma experiência coletiva de opressão, ressignificadas como identidades de resistência, assumidas com orgulho como identidades de luta.
O movimento LGBT nasce na sequência histórica dos “longos anos sessenta”, em que explodiram também as lutas anticoloniais, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a segunda vaga do feminismo, a contracultura hippie e a revolução sexual, um ciclo de mobilizações estudantis e operárias (incluindo o maio de 1968), novos sujeitos coletivos que queriam politizar o quotidiano e contestar a alienação do “capitalismo tardio”. Foi também nessa década que, em vários países, o movimento da antipsiquiatria fez o seu caminho, questionando profundamente a ordem biomédica e o “patológico” e o “normal” como categorias de estigmatização, controlo social e repressão institucional.

Portugal chegou mais tarde a esta vaga. Foi a Revolução do 25 de abril de 1974 que abriu as portas ao primeiro manifesto LGBT publicado nos jornais da época, logo em maio desse ano: “Liberdade para as Minorias Sexuais”, da autoria do recém-criado Movimento de Ação Homossexual Revolucionária. Uma reação conhecida a esse manifesto foi a do general Galvão de Melo, da Junta de Salvação Nacional, que declarou na televisão que “A revolução não foi feita para prostitutas e homossexuais”. Apesar do momento revolucionário, o heteropatriarcado não foi tão abalado pela Revolução quanto outros aspetos da vida social. Durante o fascismo, escritores como Judith Teixeira ou António Botto tinham visto livros seus serem queimados por exporem publicamente “imoralidades”. Valentim de Barros, bailarino de sucesso internacional, estava internado no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, depois de submetido a uma lobotomia, sob o diagnóstico de “homossexualidade” (Egas Moniz, inventor dessa cirurgia ao cérebro, único português que foi Nobel da Medicina, em 1949, entendia que “a homossexualidade é uma doença tão digna de ser curada como as outras”). A repressão era múltipla, insidiosa e em muitos casos implacável. A Revolução abriu as portas ao combate, mas só a partir da década de 1990 se pode falar de um verdadeiro movimento LGBT em Portugal.
4. Organização e visibilidade: o primeiro ciclo do movimento (1991-1997)
A segunda tentativa visível de ativismo homossexual dá-se com o nascimento do Coletivo de Homossexuais Revolucionários, em agosto de 1980, incluindo pessoas como João Grosso, Fernando Cascais ou José Calisto. Em novembro desse ano, o CHOR organiza um encontro público com cerca de 300 pessoas na "II Feira da Arte do Desenrasca". No ano seguinte, os ativistas do CHOR desfilam com cartazes na manifestação do 1º de Maio em Lisboa. Mas o movimento extingue-se em 1981. Seria preciso esperar até maio de 1991 para ver surgir, dentro do Partido Socialista Revolucionário (PSR), o Grupo de Trabalho Homossexual, que manterá atividade regular até 2003 e está na origem de múltiplas ações de rua. No 1º de Maio de 1991, o GTH-PSR apresentou-se com uma faixa na marcha da CGTP.

Esta origem do ativismo em Portugal, claramente ligada a um partido de esquerda, deixou uma marca na configuração e nas agendas do movimento. A 28 de Junho de 1997 realizou-se o primeiro Arraial Pride, no Príncipe Real em Lisboa. Participam o Clube Safo, o GTH-PSR e bares gays e lésbicos do Príncipe Real. No mesmo dia, a associação Opus Gay apresenta o seu manifesto de fundação. Os antecedentes deste arraial podem ser encontrados em 1995, quando, por iniciativa do GTH-PSR se organiza um encontro na discoteca Climacz, em Lisboa, para celebrar Stonewall, com espetáculos drag e leituras de poemas por Al Berto, com repercussão na imprensa. Ainda em 1997, em setembro, tem lugar também o primeiro Festival de Cinema Gay e Lésbico de Lisboa, com edições anuais até hoje.
Nessa década, surgiram também outros coletivos e publicações autónomas, como a revista lésbica Organa (1991); o coletivo Lilás (1993), com uma revista com o mesmo nome; a ILGA-Portugal (1996), criada por um grupo da ativistas homossexuais vindos da luta contra a sida; o Clube Safo (1996); ou o portal PortugalGay (1996). Em 1995, Mário Viegas integra como independente as listas da UDP ao Parlamento, na primeira campanha eleitoral em que um candidato assume publicamente a sua homossexualidade. Viegas viria depois, no final desse ano, a protagonizar uma pré-candidatura “performativa”à Presidência da República. No final dessa década de 1990 abriu o primeiro Centro Comunitário Gay e Lésbico, em Lisboa, com o apoio da Câmara (1997).
5. A questão LGBTQI+ entra na agenda política (1997-2000)
Em junho de 1997 ocorreu o debate parlamentar sobre as uniões de facto. Na altura, não havia Bloco e o projeto da Juventude Socialista que incluía casais do mesmo sexo não chegou sequer a dar entrada na mesa do Parlamento. A lei das uniões de facto, aprovada em 1999, consagraria a discriminação. É só nesse ano, por outro lado, que é revogada, na sequência da mobilização do GTH-PSR e da ILGA, a Classificação Nacional das Deficiências, publicada no Diário da República que incluía o termo "deficiência da função heterossexual". Data de 1997, também, o início da luta contra a discriminação de homens gays e bissexuais na doação e sangue.
Até 1996, como assinala a investigadora Ana Cristina Santos, não há qualquer registo das palavras “homossexual”, “gay”, “lésbica”, “bissexual” ou “transgénero” nos debates do Parlamento. Só a partir de então o movimento começa a ter as primeiras conquistas legais. Com o crescimento do próprio movimento LGBTQI+ foi possível arrancar ao poder político um vasto leque de mudanças legislativas e de políticas públicas nos últimos vinte anos (uniões de facto, princípio de não discriminação na Constituição e no Código do Trabalho, casamento, adoção, lei da identidade de género, programas anti-discriminação, entre muitas outras), que determinaram uma visibilidade mediática e social que faz toda a diferença. Para a aceleração dessas conquistas foi relevante o nascimento, em 1999, do Bloco de Esquerda, força determinante no parlamento e nas lutas. Em março de 2001, o movimento tem a sua primeira grande vitória legal: uma lei não discriminatória sobre as uniões de facto.
6. A década de 2000: mais marchas, mais movimento, mais alianças
1ª Marcha do Orgulho Gay, Lésbico, Bi & Transgender, Lisboa, 2000. Foto do Centro Documentação Gonçalo Diniz, ILGA – Portugal.
A década de 2000 é marcada pelas primeiras Marchas do Orgulho (em junho de 2000 acontece pela primeira vez em Lisboa) e pelo surgimento de novos coletivos noutras zonas do país: o "Nós", Movimento Universitário pela Liberdade Sexual no Porto; em Torres Vedras o Grupo Oeste Gay; a associação "Não te Prives" - Grupo de defesa dos direitos sexuais, em Coimbra; a rede ex aequo, associação de âmbito nacional destinada a jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes entre os 16 e os 30 anos. Em 2002 nasce também a primeira associação trans, a @t-assocviação para o estudo e defesa do direito à identidade de género, com as pioneiras Jo Bernardo e Andreia Ramos. As Marchas Mundiais de Mulheres, as campanhas pela legalização do aborto e a realização do Fórum Social Português (2003), reforçaram os laços entre o movimento LGBTQI+ e o movimento feminista. Em 2004, pela mão de um dirigente sindical comprometido com a causa, consegue-se que o 10º Congresso da CGTP aprove uma declaração de princípios e um programa de ação que inclui pela primeira vez uma referência às questões da orientação sexual. Em 2004, inscreve-se pela primeira vez na Constituição o princípio da não discriminação em função da orientação sexual, por proposta do Bloco. Nesse mesmo ano, fundam-se as Panteras Rosas - Frente de combate à Homofobia. Em maio de 2005, 300 pessoas ocuparam as ruas de Viseu numa manifestação destinada a condenar as agressões a homossexuais naquela cidade. A iniciativa, chamada Stop Homofobia, foi amplamente convocada por associações LGBT e outras organizações sociais e constituiu a primeira manifestação nacional contra a homofobia. Em fevereiro de 2006, Gisberta, uma transsexual do Porto, foi barbaramente agredida e torturada até à morte, tornando-se um símbolo da violência extrema a que a discriminação pode levar, revelando também o esquecimento a que a população trans sempre esteve votada, mesmo no seio do movimento LGBT. O caso acabou por impulsionar a 1ª Marcha do Orgulho LGBT no Porto. Esta marcha tem, desde o seu primeiro momento, uma particularidade: é organizada não apenas por associações LGBT, mas também, e com papel relevante, por associações de defesa dos direitos humanos, associações anti-racistas e partidos políticos de esquerda: o Bloco, a JS e o Partido Humanista estão na sua fundação. O PCP nunca aceitou integrar a organização da Marcha, até hoje, mesmo num contexto em que a organização se tem vindo a alargar a novas organizações políticas e sociais.
Evocação de Gisberta no cortejo das Panteras Rosa na Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa em 2006. Foto de Paulete Matos
Entre maio e junho de 2008, o Bloco de Esquerda organizou as primeiras Jornadas contra a Homofobia, com diversas sessões públicas em múltiplos pontos do país e uma conferência em Lisboa com convidados internacionais. Tratou-se da primeira iniciativa de envergadura nacional organizada por um partido político sobre este tema, que juntou um grande número de ativistas.
Em 2009, pela primeira vez, acontece em Portugal a campanha Stop Patologização Trans, com origem internacional e levada a cabo pelas Panteras Rosa em conjunto com ativistas trans independentes. No plano associativo, surge a AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género.
O final da década é politicamente marcado pelo debate em torno do acesso ao casamento e à adoção. Em 2008, com votos contra do PS, do PSD e do CDS, o parlamento chumba as propostas de Bloco e PCP para a aprovação do casamento civil. Foi preciso esperar por 8 de janeiro de 2010 para o parlamento aprovar a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Depois dos Países Baixos, Espanha, Bélgica, África do Sul, Canadá, Noruega e Suécia, Portugal foi o oitavo país a permitir o casamento, mas excluindo a adoção. Em fevereiro de 2011, aprova-se a primeira lei da identidade de género, que não impunha qualquer procedimento de mudança de sexo, permitindo a alteração de registo de sexo e nome no registo civil mediante apresentação de um requerimento próprio, acompanhado por um relatório médico assinado por dois profissionais.
Assembleia da República no dia da aprovação do casamento entre pessoas no mesmo sexo, em 2010. Foto de Paulete Matos.
7. Institucionalização, conquistas legais e novos desafios (2010-2020)
A década seguinte vê surgir novos grupos informais, assiste ao alargamento territorial das marchas e a uma queerização do movimento. Ao mesmo tempo que a agenda LGBTQI+ penetra nas políticas públicas e se institucionaliza - com financiamentos, projetos europeus, iniciativas na área da saúde e uma relação mais próxima e também mais dependente entre algumas associações e o Estado -, há uma explosão da causa entre os jovens, com as marchas a revelarem uma enorme adesão da juventude. As suas reivindicações assentam menos na agenda legal e mais num enunciado de transformações culturais e políticas e na afirmação da diversidade de expressões de género e de orientações sexuais. No plano legal, só em 2015 o parlamento aprova a adoção plena por casais homossexuais. As propostas do Bloco e do PEV haviam sido reprovadas em 2013 (ano de aprovação da co-adoção), com votos contra da maioria dos deputados do PSD e do CDS, de parte da bancada do PS e por toda a bancada do PCP. Cavaco Silva vetou o diploma, com o parlamento a confirmar a votação em abril de 2016. É ainda em 2016 que o acesso à procriação medicamente assistida é alargada a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil ou orientação sexual.
A agenda trans ganha também maior espaço público e novas organizações, como a API - Ação Pela Identidade, associação de pessoas trans e intersexo criada em 2015. Pela primeira vez existe, nesse ano, um bloco trans na Marcha do Orgulho LGBT, em Lisboa. Desde 2012, ganha corpo a campanha Stop Patologização Trans, de que o coletivo Grupo Transexual Portugal foi um dos mais ativos dinamizadores.
A expansão dos direitos das pessoas transgénero e do reconhecimento à autodeterminação da identidade e expressão de género tem levado a uma maior compreensão do género como um espectro amplo, perante o qual um sistema de classificação binário homem/mulher se torna cada vez mais limitativo e opressor. Por outro lado, a identificação não-binária surge também, crescentemente, como uma declaração existencial contra o modo como a sociedade conforma o que é “ser homem” e “ser mulher”. O sistema de classificação binário nasce do mesmo preconceito patriarcal que atribui a cada pessoa, desde o nascimento, um papel de género (masculino/feminino) assente na hierarquia e na divisão sexual. Historicamente, a rigidez da classificação binária, com a sua estrutura de poder e divisão de papéis, foi também uma imposição colonial europeia a culturas que reconheciam mais de dois géneros ou que não atribuíam a essa classificação a mesma relevância ou função em estruturas de poder e dominação.
Manifestação em Lisboa pela visibilidade trans, março de 2022. Foto de Ana Mendes.
O questionamento da divisão do mundo em dois géneros rigidamente definidos tem sido cada vez maior. O estudo europeu “Trans Rights” envolveu cinco países (Portugal, França, Reino Unido, Países Baixos e Suécia) e concluiu que mais de 40% dos entrevistados (na comunidade LGBTQI+) definiam o seu género como estando para lá do binário feminino/masculino. Nos EUA, o Instituto Williams, da Universidade da Califórnia assume existirem cerca de 1,2 milhões de pessoas não-binárias. Em Portugal, os Censos não permitem uma auto-identificação não binária das pessoas, não fornecendo informação sobre a extensão da rejeição destas categorias.
Na última década têm-se somado os Estados que avançaram para o reconhecimento legal de um terceiro género, designado por “outro” ou “diverso”, usado para designar pessoas que não se sentem representadas pelo padrão binário e pela definição dominante do ser homem e ser mulher. Depois da Austrália, em 2011, também Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Islândia, Índia, Malta, Nepal e Nova Zelândia reconheceram legalmente o género não binário. Outras opções de género não binárias - como a identificação “X” no passaporte ou uma terceira opção para pessoas intersexo - foram introduzidas na Irlanda, Colômbia, Argentina, Estados Unidos da América e Alemanha. As soluções são muito diferentes e a tensão é entre a necessidade de reconhecer identidades não-binárias e o combate à consagração de categorias legais que podem ter como efeito o reforço do próprio binarismo ou a criação de guetos legais para todas as pessoas que rejeitam qualquer das categorias existentes.
Em Portugal o quadro legal é binário. Mas com a aprovação da nova lei de identidade de género, em 2018, Portugal afirmou-se como um dos países com a legislação mais avançada no reconhecimento de direitos às pessoas trans.
LINHAS DE REFLEXÃO E AÇÃO: Dificuldades e desafios a uma política queer anticapitalista
8. A discriminação e a desigualdade permanecem
Entre 2000 e 2022, os avanços legais e a visibilidade social da população LGBTQI+ são impressionantes, mesmo reconhecendo o tanto que há para fazer. A LGBTQfobia e as suas múltiplas formas de violência continuam a marcar o quotidiano de milhares de pessoas, há uma nova onda internacional de ódio conservador (e por isso de medo). Bolsonaro (Brasil), Meloni (Itália) e Orbán (Hungria) são exemplos funestos de como a agenda anti-direitos LGBTQI+ faz parte de um programa e de uma ação da extrema-direita na Europa e no mundo, como fora já Trump. Em mais de sessenta países, a homossexualidade ainda é considerada um crime, os padrões da desigualdade de género resistem apesar das mudanças legais, a precarização da vida afeta sempre mais quem soma fatores de discriminação, a visibilidade das expressões LGBTQI+ está longe de ser representativa. A luta é por isso pela mobilização internacional contra recuos e por direitos mas também, nos países com quadros legais mais favoráveis à igualdade formal, contra a discirminação no quotidiano, que vai muito além da luta legal.
Ao mesmo tempo que a causa LGBTQI+ ganha visibilidade mediática e cultural, fomenta uma cultura de liberdade sexual e contribui para avanços legislativos determinantes, há também impasses que atravessam o movimento e exigem uma reflexão estratégica da esquerda anticapitalista.
A explosão da agenda LGBTQI+ convive com três grandes questões que exigem resposta: 1) a cooptação mercantil; 2) o individualismo liberal como horizonte de emancipação; 3) o crescimento de uma visão performativa da opressão que ignora a interseção da luta pela libertação sexual com a luta contra a exploração.
9. A luta pelo prazer e pela autonomia contra a lógica neoliberal
A maior organização, representatividade e visibilidade pública do movimento e o quadro legal mais favorável à igualdade fez com que as expressões LGBTQI+ pudessem ganhar mais espaço no contexto da sociedade capitalista. Assim, multiplicaram-se mercados associados a essas expressões, seja na indústria cultural (séries, filmes, festas, festivais, música), seja nos serviços (bares, restaurantes, pacotes turísticos, etc.), seja nos bens de consumo (produtos arco-íris, roupa, adereços, …), que utilizam símbolos e referências do movimento. Numa sociedade capitalista, é expectável que tal aconteça e alguns desses espaços são até mecanismos que ampliam a capacidade da agenda LGBTQI+ chegar a mais pessoas. Mas o mercado nunca é democrático (para se aceder a bens e serviços é preciso ter dinheiro, o mercado estabelece por isso sempre fronteiras de classe). Ao mesmo tempo que o capitalismo sexualiza múltiplas dimensões da vida, a realização da sexualidade é cada vez mais constrangida pelas condições sociais, com o quotidiano esgotado pelo trabalho precarizado, pela colonização do tempo pelo consumo, pela voragem da comunicação virtual. Também a crise na habitação impõe vivências de co-habitação opressivas e amputa a autonomia e a liberdade. Do mesmo modo, a discriminação no acesso a cuidados de saúde contraria os avanços legislativos dos últimos anos.
10. Combater a cooptação mercantil das marchas
Muitas das maiores marchas LGBTQI+ internacionais perderam conteúdo político quando foram tomadas pelas marcas e pelas empresas. Nelas, a visibilidade de cada organização e bloco depende de quem tem mais dinheiro para pagar carrinhas, colunas, artistas; as marchas são grandes oportunidades para a promoção comercial de determinadas empresas; a população LGBTQI+ deixa de surgir como o protagonista político para surgir como massa consumidora de um eventopatrocinado. Um exemplo maior desta colonização mercantil do movimento é o Europride, que em 2025 terá lugar em Lisboa. É um desfile comercial, com separação entre participantes e assistência, onde o elogio ao consumo está dissociado de reivindicações ou horizontes de transformação política, protagonizado por empresas, nomeadamente multinacionais, e deixando um rasto de fragilidade nos coletivos locais que lhe pré-existem. Por isso, é preciso pensar desde já como resistir a estes efeitos nocivos do Pride 2025, tanto mais que haverá uma enorme campanha e avultados recursos para envolver muita gente na sua lógica. Que haja mercado LGBTQI+ será normal, mas os espaços do movimento não devem deixar-se colonizar por ele, o que implica regras fortes e preventivas sobre a natureza associativa, política e não comercial das marchas (como aliás se tem procurado fazer em Portugal restringindo a participação de empresas e associações de empresas).
Europride 2019 em Viena. Foto fotospielwiese/Flickr
11. Resistir ao pinkwashing e às lógicas mercantis no ativismo
A mercantilização tem ainda outras dimensões. Existe toda a realidade do pinkwashing, que procura legitimar empresas com práticas discriminatórias (de classe, de raça, etc), pintando as organizações de arco-íris como sendo amigas da comunidade LGBTQI+. Existem Estados, como o de Israel, que continua a ocupação ilegal da Palestina, ao mesmo tempo que promove a sua política externa usando a bandeira arco-íris. Existe a penetração de lógicas e princípios mercantis na própria organização do ativismo, nomeadamente com a cultura do empreendedorismo individual das redes sociais e da sua lógica de competição pela visibilidade. A política anticapitalista queer deve combater essa cultura, incluindo no seu seio.
12. Hiperindividualismo: a proposta liberal para incluir a diferença sem mudar o mundo
O individualismo liberal como proposta de emancipação perversa é hoje hegemónico na socialização cultural e política. O velho slogan feminista de acordo com o qual “o pessoal é político” tem sido transfigurado pela cultura liberal, como se afinal só o pessoal fosse político e como se o testemunho subjetivo fosse a mais pura forma de política. Esta mistura explosiva de hiperindividualismo e construção mercantil de si através das redes sociais dificulta o pensamento coletivo e a construção de relações políticas sem as quais nenhum movimento é transformador.
A estratégia individualista e liberal, no campo LGBTQI+, oscila entre duas abordagens. Por um lado, a representatividade sem transformação (maior presença de pessoas assumidamente LGBTQI+ em lugares de poder, sejam empresas, campo cultural-mediático ou posições no Estado, sem transformar as relações de poder desses espaços) e, por outro lado, o êxodo individual (como se as estruturas do cisheteropatriarcado pudessem ser superadas pela mera recusa individual das categorias existentes. Ora, não basta declarar-me com uma determinada identidade ou categoria alternativa para que o heteropatriarcado seja enfraquecido. As estruturas não deixam de existir por tentarmos escapar-lhes individualmente; ou por reivindicarmos para nós outras classificações; ou por mudarmos a nossa performance de género (mesmo que isso seja libertador e caiba numa estratégia de luta). Precisamos de coletivos e de lutas políticas feitas em conjunto.
13. Muito para além da subjetividade e do interpessoal
Linguagem, ética, comportamento individual e esfera interpessoal são relevantes na afirmação de direitos, mas são também os limites que a política social-democrata impõe à luta contra a opressão. A nossa tarefa é cultivar, contra esses limites, uma visão radical que não fica pela disputa daquelas quatro dimensões. A materialidade das relações de opressão e de exploração no capitalismo é o objeto fundamental contra o qual lutamos. A discriminação não é apenas uma realidade simbólica, linguística ou ética. Ela tem raízes e manifestações materiais, opera na organização das cidades e do espaço, no acesso à habitação e ao emprego, na violência física, na desigualdade nos espaços da família, da comunidade e do mercado. Além disso, a história do movimento LGBTQI+ é também uma história de alianças para vencer e superar a desigualdade. Na luta contra os interesses das farmacêuticas que negavam o acesso ao tratamento do VIH, com a conivência ativa dos governos norte-americano e europeus, o movimento ACT UP procurou uma aliança com o movimento anti-guerra: “Money for AIDS not for war”. A solidariedade do movimento LGBTQI+ na luta dos mineiros contra a avalanche neoliberal de Margaret Thatcher (Lesbians and Gays Support the Miners) levou a que o partido trabalhista fosse obrigado a incorporar no seu programa alguns dos direitos defendidos pelo movimento. Mais recentemente, perante a ameaça bolsonarista sobre a população LGBTQI+(crimes de ódio tiraram a vida de 140 pessoas trans no Brasil em 2021), os movimentos mobilizaram-se pela vitória de Lula da Silva.
Manifestação da Act Up em Nova Iorque em 1988. Foto de Clay Walker.
14. Maior representatividade é mais democracia
A luta pela visibilidade de todas as orientações, identidades e condições dentro do universo LGBTQI+ tem exigido oportunidades de emprego e recusa da representação estereotipada das minorias. O protesto por oportunidades de emprego para a população trans sublinha esta necessidade. As pessoas trans são o grupo social com a taxa de desemprego mais brutal, acima de qualquer outra minoria. Criar mecanismos de discriminação positiva, abrir espaços e oportunidades reais, estabelecer compromissos para o emprego nas várias áreas de atividade, garantir o acesso das pessoas trans à criação das suas próprias representações, combater o modo estereotipado de produção de narrativas sobre as pessoas trans é uma dimensão fundamental do combate emancipatório. Esta luta não limita a expressão de ninguém, não estabelece uma lógica de concorrência individual entre pessoas oprimidas e exploradas, não impõe monopólios de representação, antes chama a atenção para as profundas relações de dominação e silenciamento da nossa sociedade, confronta a sociedade e as políticas públicas com a responsabilidade de expandir espaços, oportunidades e mecanismos de auto-representação para todas as pessoas, implica o conjunto do movimento na inclusão desta agenda.
15.Disputar muito mais que a linguagem
A viragem linguística de parte da esquerda desde a década de 1980, particularmente em países como a França ou os Estados-Unidos - só mais recentemente chegada a Portugal - suscitou debates importantes. Permitiu dar relevância à superestrutura e aos fenómenos simbólicos na luta política, permitiu que quem vivencia a dominação possa determinar os termos em que é expressado o seu sofrimento, obrigou a colocar em causa as categorias de classificação do mundo enraizadas no senso comum heteropatriarcal e a complexificar os próprios conceitos de classe, desenhado também sob o heteropatriarcado, de relação colonial e de racismo. Disputar a linguagem e encontrar palavras mais inclusivas, como o Bloco tem feito desde o seu nascimento, é parte da transformação do mundo. As lutas políticas são também lutas simbólicas e, neste campo, tem havido alianças com liberais e socialdemocratas sobre a linguagem inclusiva. Mas o reducionismo económico não deve ser substituído por um determinismo linguístico, como se a transformação do discurso fosse o horizonte da política transformadora. Não é.
16. O todo é muito mais que a intersecção das partes: por um movimento inclusivo e revolucionário
Disputar a linguagem implica rejeitar bolhas comunicacionais e de classe. Essa disputa deve ser a da capacidade de comunicar com outros e outras, evitando códigos fechados e elitistas. A nossa batalha pelas palavras não retira centralidade tática ao combate contra as forças materiais que mantêm e beneficiam com as estruturas sociais do heteropatriarcado e do capitalismo. Para isso, a esquerda anticapitalista combate a fragmentação das subjetividades de luta, constrói em permanência solidariedades entre pessoas oprimidas e rejeita raciocinar em torno de categorias estanques (classe, género, racialização, orientação sexual, identidade de género, idade, origem territorial, etc, e as infindáveis derivações dentro destas) que se justapõem em geometrias individuais, com cada corpo como feixe único em que o poder se projeta e não como parte do processo histórico.
Pensar a opressão enquanto cartografia de categorias analíticas, como se elas pudessem existir separadamente, leva-nos a naturalizar e coisificar as categorias, . Abdicar de uma estratégia de superação das relações de exploração capitalista e cisheteropatriarcais, em favor de uma concepção de poder cristalizado em signos individuais de opressão, conduz ao fechamento e a becos organizativos, dilemas de representatividade exclusiva no movimento, pertença e discurso (quem fala, quando e por quem).. Pelo contrário, a política transformadora deve trabalhar para questionar e destruir essas categorias e pensar sempre a partir das relações sociais concretas em que esses eixos se constituem.
17. Nem colorir o sistema, nem protegermo-nos dele: organizarmo-nos para vencê-lo
A solidariedade LGBTQI+ constrói-se pelo amadurecimento e pela definição de agendas políticas de luta coletiva, não nasce apenas de um mosaico de testemunhos, de experiências de sofrimento subjetivo, de exemplos de ascensão individual ou de atos heróicos de dissidência de género, mesmo que eles possam ser fonte de inspiração ou referências positivas. O nosso horizonte de transformação também não multiplica refúgios em “espaços seguros” separados (mesmo que possam ter papel na preparação de ações), mas misturarmo-nos para enfrentarmos coletivamente esse sistema edestruí-lo. Os ativistas anticapitalistas não querem limitar-se a colorir o sistema ou a escapar-lhe: querem derrotá-lo.
Para isso, é preciso reforçar uma cultura de continuidade, de organização e de disputa maioritária na sociedade. O peso da cultura do individualismo liberal sente-se num movimento LGBTQI+ ainda pouco associativo, apesar da imensa energia juvenil que o revigora. Algumas associações históricas tendem a profissionalizar o seu ativismo e a viver de projetos e financiamentos. O ativismo político torna-se mais individual, irrompendo com pujança nas multidões das Marchas. Contrariar esta tendência, criar novas associações em todos os lugares onde haja marchas, coletivos que coloquem as sínteses políticas no comando são tarefas que devemos assumir. A força transformadora das Marchas depende da sua afirmação enquanto aliança reivindicativa, o que exige associações que se assumam como núcleos políticos do movimento.
18.Um Fórum para politizar as lutas e dar mais força ao movimento
Fórum LGBTQI+ organizado no porto em fevereiro de 2023. Foto de Ana Mendes.
Os e as ativistas do Bloco realizam um fórum nacional para definir a sua estratégias, aprofundar o debate crítico e tomar decisões que possam contribuir para reforçar o movimento LGBTQI+, impulsionando coletivos descentralizados no território, participando na formação de novas associações, planeando formações políticas sobre temas essenciais, estimulando uma rede das marchas, contribuindo para uma politização anticapitalista e antiliberal das lutas pela emancipação, incluindo a luta pela libertação sexual, por uma política revolucionária do universal - capaz de unificar todos os setores interessados na superação do capitalismo e do cisheteropatriarcado, superando a fragmentação neoliberal e dando potência à agenda LGBTQI+ em Portugal. O Fórum Nacional de ativistas LGBTQI+ do Bloco de Esquerda, convocado pela Mesa Nacional em 19 de novembro de 2022, terá lugar a 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Porto. Até lá, o Bloco de Esquerda irá promover em todo o território iniciativas que apontem um caminho de mobilização. O Fórum LGBTQI+ do Bloco terá uma componente do seu programa aberta a não aderentes.