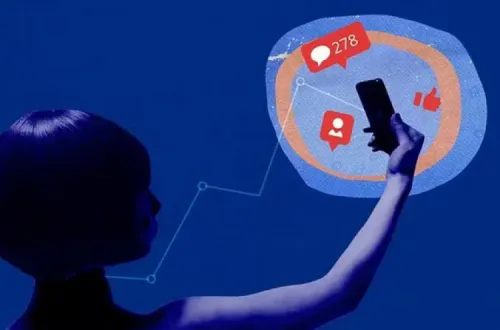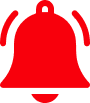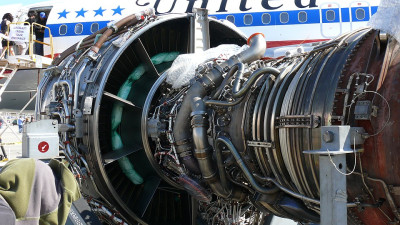Abri a aplicação sem pensar. Era madrugada, os olhos meio cansados, o corpo querendo presença e a mente só querendo silêncio. Rolei o ecrã uma vez, duas. Os rostos passavam com uma velocidade inquieta, como se nenhum merecesse a pausa. Dei-me conta, num lampejo, de que não havia ali nenhuma escolha verdadeira. Deslizar para a esquerda ou para a direita era só um gesto condicionado, repetido tantas vezes que já não carregava peso. Nenhuma hesitação. Nenhuma dúvida. Nenhuma espera.
E foi ali, naquele gesto leve demais, que percebi o que tinha sido roubado de mim: o tempo do afeto. Não o amor em si, mas aquilo que o antecede – a dúvida, a angústia, o receio, o espaço onde o outro começa a existir. O algoritmo conhecia-me, ou melhor, conhecia os meus padrões. Sabia o que eu responderia antes de eu mesmo saber. E talvez por isso tudo parecesse tão fácil. Fácil demais.
Mas o amor, a raiva, o desejo, o tédio, a tesão, a amizade, a comunhão e o abandono… Todos eles nascem de uma hesitação. São filhos da fricção, do atrito, da demora que nos obriga a olhar mais uma vez, a escutar com cuidado, a errar. A antecipação que hoje organiza as nossas interações não nos oferece atalhos para sentir – ela impede-nos de sentir.
Porque aquilo que é previsto, que é sugerido antes de ser desejado, não é nosso. É dado. Quando exatamente parámos de hesitar? Quando foi que perdemos o direito de não saber o que queremos? Talvez tenha sido no dia em que aceitámos que o interface soubesse mais sobre nós do que nós mesmos. Talvez tenha sido no dia em que confundimos fluidez com liberdade. Ou talvez tenha sido agora mesmo, neste instante em que lest este parágrafo inteiro sem desviar os olhos, como se ele tivesse sido feito para ti – porque talvez tenha mesmo sido.
Mas e se, por um instante, hesitasses? Hesitar seria, quem sabe, o começo de um afeto real. Não aquele que escorre no ecrã, mas aquele que arranha, que trava, que nos devolve a nós mesmos. O gesto de parar. De recusar a fluidez. De recuperar o tempo da dúvida. Este ensaio é um pedido por esse gesto. Uma tentativa de entender o que perdemos quando tudo ficou tão fácil. Porque, no fundo, talvez só haja liberdade no instante em que decidimos desacelerar. E sentir.
O mundo sem atrito: como o capitalismo digital remodelou o tempo do afeto
Vivemos num tempo em que a lentidão foi transformada em defeito e a hesitação, em falha de sistema. A vida – com todos os seus desvios, silêncios, pausas e incertezas – passou a ser vista como um conjunto de problemas a serem resolvidos por plataformas. Nas relações, isso traduziu-se numa reengenharia profunda do tempo afetivo. A espera, o desencontro, o constrangimento, o medo da rejeição, tudo o que fazia parte do encontro com o outro, passou a ser tratado como ruído. A promessa era tentadora: um amor sem dor, uma conexão sem atrito, uma emoção sem exposição. Mas no processo de remover o incómodo, também se removeu a profundidade.
A ideologia da fricção zero, forjada no coração das corporações de tecnologia, molda o mundo a partir de uma crença simples e devastadora: tudo deve ser fácil, rápido, intuitivo e automatizado. O afeto, nessa lógica, não escapa. Ele é comprimido em emojis, acelerado em stories, pré-formatado em notificações. O sujeito não é mais alguém que deseja, hesita, busca e escolhe. Ele é alguém que desliza, confirma, reage e consome.
Essa lógica não é neutra. Ela reorganiza os sentidos do que significa amar, odiar, desejar ou vincular-se. O tempo do outro – imprevisível, imperfeito, cheio de zonas de sombra – é substituído pela personalização do mesmo. O algoritmo aprende o que gostas, replica, intensifica, entrega. Não há surpresa, não há risco. A alteridade é filtrada até se tornar familiar. E o familiar torna-se confortável. Mas o conforto, neste contexto, é a ausência de experiência verdadeira.
O amor, como o pensamento, exige atrito. Exige o tempo do não-saber, da vulnerabilidade, do tropeço. A fluidez total dissolve esse tempo. Transforma o encontro em transação. A paixão em funcionalidade. A conversa em interface. O afeto em performance.
Quando tudo flui perfeitamente, já não há mundo – há sistema. E tornamos-nos apenas funções dele. O mundo sem atrito não é um mundo mais leve. É um mundo onde não se tropeça porque o caminho já foi pré-determinado. E nesse caminho suave demais, o que se perde é o outro. E, com ele, perdemo-nos também.
O metaintermediário afetivo: quando o algoritmo ama por nós
Ainda sabes o que desejas? Ou só sentes o que te sugerem sentir? Essa talvez seja a pergunta mais íntima e mais violenta do nosso tempo. Porque o desejo – esse motor instável da existência – tem sido colonizado por instâncias técnicas que operam em silêncio, com precisão matemática, sob o verniz da personalização. Chamamos isso de metaintermediação: uma mediação que já não se apresenta como mediação, mas como familiaridade. E, no campo dos afetos, essa familiaridade é fatal.
O algoritmo não apenas aprende os teus gostos, ele antecipa os teus afetos. Ele sugere pessoas, palavras, humores. Sabe o que consideras atraente, o que te incomoda, o que perdoas. Ele não está mais entre ti e o outro – ele é o que organiza a ideia de outro. Não encontras, és conduzido. Não sentes, confirmas o que foi previsto.
Nas aplicações de relacionamento, o metaintermediário revela-se com toda sua potência: sugere o par, modela o flerte, acelera a conversa, traduz o desejo em gesto automático. Aquilo que antes era negociação sensível entre duas incertezas, torna-se um jogo de respostas pré-programadas. A diferença deixa de ser possível. A espera, insuportável. O silêncio, ofensivo.
E mais: o algoritmo afeta não apenas o que escolhemos, mas como nos apresentamos. Moldamos as nossas fotos, as nossas frases, as nossas narrativas para caber no filtro do sistema. O metaintermediário ensina-nos a sermos desejáveis – não para o outro, mas para ele.
Passamos a desejar sermos escolhidos por ele. A afeição passa a ser avaliada não pela intensidade do vínculo, mas pela conversão em engajamento. O afeto transforma-se em métrica.
Neste regime, amar não é mais encontro, é adesão. O algoritmo ama por nós – porque decide quem veremos, quando, como e por quê. Ele já iniciou a conversa antes que ela comece. Ele já escolheu o caminho antes da dúvida. Já nos empurrou para o sim antes do talvez.
E, no entanto, aceitamos. Porque alivia o esforço. Porque elimina o medo. Porque remove o erro. Mas é justamente no esforço, no medo e no erro que o amor vive. Quando a mediação desaparece como mediação e se apresenta como natural, o que temos é a mais sofisticada forma de dominação: a que se oferece como cuidado. A que diz que está a ajurdar-te quando, na verdade, está a substituir-te.
Talvez, hoje, resistir seja aprender de novo a desejar sem mapa. A reencontrar o outro sem GPS afetivo. A permitir que o acaso desmonte o controle. Porque, se há algo que o algoritmo não pode prever, é o gesto autêntico da hesitação – aquela microdecisão incerta que rompe o fluxo e dá início ao que ainda não tem nome.
A engenharia da sensibilidade: moldar emoções como se molda consumo
Nada do que sentimos hoje escapa completamente ao design. As emoções já não são apenas respostas a eventos imprevisíveis – são moldadas por interfaces que foram meticulosamente projetados para ativar padrões afetivos específicos. A ansiedade tornou-se notificação. A carência, algoritmo de engajamento. O afeto, índice de performance. O sistema aprendeu a modular o que sentimos com a mesma precisão com que define o que consumimos.
O design persuasivo – matriz invisível das aplicações que habitamos – atua diretamente sobre o comportamento, mas também sobre o sentir. Ele não nos diz o que devemos amar, odiar ou desejar, mas oferece-nos continuamente contextos, cores, sons, micro-interações e ritmos que induzem emoções específicas. Sentimos mais por conveniência do que por convicção. E quando sentimos demais, é porque alguém monetiza esse excesso.
O deslizar suave do ecrã, a vibração leve da mensagem, a sequência de stories com música calibrada – tudo é minuciosamente construído para manter o corpo conectado, o cérebro excitado, o coração levemente viciado. O interface transforma o desejo em hábito e o hábito em algoritmo. Repetimos o gesto, mas já não sabemos por quê. A emoção torna-se função. E o afeto, consequência.
Nas aplicações de relacionamento, essa lógica atinge uma clareza brutal. Não se trata de encontrar alguém, mas de não sair do ciclo. A ausência do outro não dói – ela é imediatamente preenchida por uma nova promessa. Um novo rosto. Uma nova recompensa intermitente. A espera é eliminada. A fricção emocional é substituída por uma fluidez compulsiva. Cada emoção que se esboça é imediatamente redirecionada, absorvida, reinterpretada. Não há tempo para elaboração, apenas para resposta.
Mais do que oferecer-nos escolhas, os sistemas treinam-nos. Não para amar melhor, mas para amar conforme as regras do engajamento. Não para sentir com intensidade, mas para reagir com eficácia. O afeto transforma-se numa espécie de capital: algo que deve circular, render, provocar ação.
E assim vamo-nos afastando do mais essencial: da emoção que atrasa, que pesa, que não sabe direito onde quer ir. Da tristeza que não cabe numa notificação. Da alegria que não rende conteúdo. Do desejo que recusa atalhos.
Se há uma engenharia da sensibilidade em curso, talvez seja hora de sabotar a sua arquitetura. De reabilitar os afetos que não convertem, que não fluem, que não se deixam prever. Emoções que resistem à codificação são, hoje, o nosso último território de liberdade. E talvez a maior delas seja aquela que se recusa a ser sentida no tempo exato do algoritmo. A emoção que atrasa, hesita e permanece. A que exige presença. A que precisa de atrito.
O fascismo do like: ressentimento, algoritmos e a economia do ódio
A fricção zero não eliminou o conflito. Ela moldou-o. Otimizou a raiva, indexou o ressentimento, empacotou o ódio em formatos vendáveis. O que antes era tensão política, divergência ética ou dor social virou combustível de engajamento. E no centro dessa operação está a transformação dos afetos negativos em ativos de mercado. O novo fascismo não grita de fúria – desliza com suavidade. Não marcha em uniformes, mas desfila em comentários, posts, hashtags. O seu campo de batalha não é a praça pública, mas a timeline. A indignação é incentivada, desde que monetizável. O algoritmo não tem moral, tem métrica: se o ódio performa bem, será promovido.
Mas há algo mais profundo nessa lógica. O ressentimento, esse afeto sombrio, ganhou nova centralidade na arquitetura algorítmica. Ele é previsível, viral, facilmente reproduzível. A plataforma identifica quem compartilha a mesma raiva, conecta, intensifica, retroalimenta. A bolha não é acidente – é projeto. E dentro dela, o sujeito encontra não uma comunidade, mas um espelho deformado de si, onde a indignação se converte em identidade.
A fricção zero, nesse cenário, atua como lubrificante do ressentimento. Ela evita o dissenso real – aquele que exige escuta, exposição e desconforto. No seu lugar, oferece a ilusão de antagonismo: guerras instantâneas, lacrações, cancelamentos. Nada que dure, nada que transforme. Apenas uma sucessão de afetos recicláveis, constantemente preparados para o próximo escândalo.
O fascismo digital não se impõe, ele seduz. Ele oferece pertença no lugar da reflexão. Simplicidade no lugar da complexidade. Confirmação no lugar do outro. É um fascismo da fluidez: parece leve, mas é totalitário. Apaga a dúvida, silencia a ambiguidade, esteriliza o espaço do encontro.
E o like, esse gesto banal, tornou-se o seu símbolo. O like é adesão sem pensamento. É aprovação sem fricção. É política sem política. A economia do ódio opera na estética da leveza. Mas a sua função é clara: impedir que o afeto se torne ação, que o incómodo se torne rutura, que a dor se transforme em solidariedade.
Diante disso, resistir exige mais do que consciência crítica. Exige reaprender a sentir fora da lógica do engajamento. A cultivar afetos que não viralizam. A proteger os espaços lentos onde a raiva vira luto, o luto vira gesto e o gesto vira transformação. Exige, sobretudo, recuperar a dignidade de não reagir. De não performar. De não deslizar. De sentir fora do script.
Talvez o gesto mais revolucionário hoje seja o de não responder. Não deslizar. Não clicar. Apenas parar. Porque no mundo em que tudo foi desenhado para fluir – do desejo ao ódio, do encontro ao cancelamento – recusar a velocidade tornou-se uma forma de desobediência. E hesitar, que antes era apenas uma pausa do pensamento, agora é um ato político.
A hesitação rompe o fluxo. Interrompe o algoritmo. Suspende a previsibilidade. É nesse intervalo incómodo que o sujeito volta a existir como sujeito – e não como função da interface. No tempo da dúvida, há espaço para o outro, para o erro, para o inesperado. O silêncio que a hesitação cria não é ausência. É terreno fértil.
O capitalismo da fricção zero ensinou-nos a temer o vazio. Convenceu-nos de que o tempo improdutivo é tempo desperdiçado. Que o afeto que demora é afeto errado. Que a emoção que hesita é falha de sistema. Mas o amor não nasce da eficiência. A amizade não se mede em respostas rápidas. A escuta não se faz por automatismo. Tudo o que é profundamente humano exige um tempo que os algoritmos não conseguem antecipar.
Reaprender a hesitar é reencarnar na linguagem. É devolver sentido à palavra antes de soltá-la. É permitir que o afeto amadureça antes de ser postado. É dar ao corpo o direito de não saber o que sente. É recusar a performatividade exigida pelo agora constante.
Este ensaio começou com uma pergunta: quando foi que deixámos de hesitar? Mas talvez o mais importante seja descobrir como voltar. Como reconstruir o tempo do afeto sem atalhos, sem interfaces, sem produtividade. Como reabilitar o incómodo da dúvida como espaço de encontro.
Talvez isso comece com gestos ínfimos. Com o dedo que não desliza. Com a resposta que não vem. Com o olhar que demora. Com o silêncio que não se apressa a virar fala. Porque nesse mundo saturado de antecipação, hesitar é lembrar que ainda somos capazes de viver fora da lógica do desempenho. E talvez seja só aí, nesse breve intervalo de recusa, que algo verdadeiramente nosso ainda possa emergir.
Reynaldo Aragon Gonçalves é jornalista especializado em geopolítica da informação e da tecnologia, com foco nas relações entre tecnologia, cognição e comportamento. É investigador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania Informacional, onde investiga os impactos da tecnopolítica sobre os processos cognitivos e as dinâmicas sociais no Sul Global.
Texto publicado originalmente no Outras Palavras. Editado para português de Portugal pelo Esquerda.net.