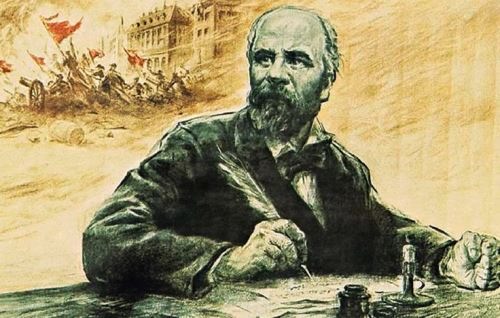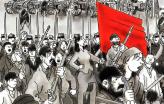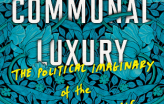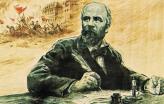As canções podem dizer-nos muito sobre a extraordinária, exaltante e trágica experiência revolucionária de 1871, tão pouco conhecida e pouco estudada, afinal de contas. Uma vez exterminada a Comuna de Paris, o que dela ficou foram relatos, memórias e testemunhos, análises históricas e ensaios, algumas fotografias e... canções.
As canções têm a grande vantagem de ter várias vidas, como os gatos. Podem ser refeitas, redescobertas, cantadas de novo e, hoje em dia, regravadas e reouvidas facilmente, graças à invenção do registo fonográfico, que é posterior à Comuna de Paris (só em 1877 Edison inventou o fonógrafo).
Uma pequena viagem pelas canções da Comuna de Paris, como propomos neste texto, permite compreender outros aspectos destes acontecimentos que mudaram para sempre o curso da história. A música permite-nos entender a ressonância e a originalidade histórica da Comuna, a sua coragem e a sua actualidade. Convidamo-vos a ler, mas também a ouvir.
Contra o Império
O Império de Napoleão III tinha prometido a paz, equilíbrios, e alguns direitos, na sequência dos levantamentos revolucionários de 1848 – mas o que fez foi o exacto oposto: as guerras e as expedições militares multiplicaram-se - Crimeia, Argélia, Saigão e Conchichina, guerras sangrentas contra a Áustria, aventuras militares no México; a desigualdade acentuou-se, deixando o povo na mais profunda miséria; as censuras e as perseguições agravaram-se, cerceando liberdades e metendo na prisão todos os opositores. Nem direitos, nem equilíbrios, nem paz.
Um dos seus opositores, o republicano Alfred Durin, foi metido na prisão por defender a democracia e criticar o governo num jornal por si dirigido e nascido na revolução de 48, Le Carrilon Républicain. Em 1854 escreveu na prisão uma canção, precisamente gozando com a frase de Napoleão III, «L'empire, c'est la paix!» («O Império, é a paz!»), que começava com os versos «O Império é a paz! Eu digo que é a peste, a guerra, a fome e a repressão». E terminava com versos libertários premonitórios, apelando à unidade de camponeses e operários: «Às armas!, Levanta-te! De pé, grande cidade!» Apesar das proibições de jornais, de clubes, de cabarés, de reuniões públicas, entre 48 e 71 cresce uma forte oposição ao Império francês, oposição politicamente diversa, republicana, democrática, socialista e anarquista. Apesar de toda a repressão, os trabalhadores e as trabalhadoras lutam... e cantam! Uma das canções que ficaram famosas destes tempos anteriores à Comuna, foi Le chant des ouvriers , uma magnífica canção de Pierre Dupont que junta a denúncia da exploração (e aos problemas específicos da condição operária) a um refrão assim: «Amemo-nos e quando pudermos/ unidos beber uma rodada/ Que o canhão troe ou que se cale/ Bebamos!/ Bebamos à independência do mundo!». Canção que a Comuna adoptou, naturalmente. Já não se tratava de fazer um elogio ingénuo do trabalho mas, pelo contrário, criticar as condições de trabalho e de vida, defender a socialização do produto do trabalho de todos e apelar à reunião convivial de uma classe que não quer apenas trabalho – quer outra forma de organização social e de vida. Uma canção internacionalista, também. Esta classe quer outro mundo.
Canções e contradições
As canções começam a afrontar cada vez mais o autoritarismo do Império, denunciando injustiças ou mesmo assassinatos (Les funérailles de Victor Noir, canção sobre o jornalista assassinado pelo príncipe Pierre Bonaparte), falando de greves e apelando à unidade dos trabalhadores. Não causa espanto: crescem as canções de protesto ao mesmo tempo que crescem as lutas operárias, mas também os combates pela liberdade de expressão (face ao encerramento de jornais e a prisões de jornalistas), contra o Estado policial e contra as injustiças sociais, cada vez mais flagrantes. Surgem canções novas, mas também se reutilizam as antigas. A velha Carmagnole, dança popular dos tempos da revolução de 1789, ganha sempre novos versos a cada revolução que passa. Teve novos em 1830, em 1848, em 1871. E, contradição maior, a própria Marselhesa está em disputa: o Império quer recuperá-la para o lado da lei e da ordem, porque ela anda muito mal-comportada, nestes tempos imediatamente antes da Comuna: anda a ser usada por camponeses e operários para armar grandes protestos contra o Império. Durante a Comuna, surgirá mesmo uma nova Marselhesa da Comuna em que o refrão terminará assim: «Sans souverain, le peuple aura du pain» («Sem soberano, o povo terá pão»).
O Império tenta sair do impasse político e social através de mais uma guerra: declara guerra à Prússia em Julho de 1870. Ao mesmo tempo surge um dos textos mais interessantes de um poeta que será amado para sempre como autor da Internacional – Eugène Pottier. A canção em causa tem como título uma pergunta: Quand viendra-t-elle? (Quando virá ela?) E, apesar das ambiguidades da canção, para contornar a censura, é claro que Pottier fala de liberdade e de uma nova sociedade. De uma mudança de base, que acabe com a miséria, a guerra, a usura. A Comuna espreita.
Que canção se cantou?
As coisas correm mal ao exército francês. As derrotas sucedem-se. Morrem milhares de homens. O «pequeno Napoleão» e a sua ditadura tremem. Paris, cercada, rende-se. É o fim do Império. Uma canção de Émile Dereux, um adepto de Auguste Blanqui (que continua preso mas que inspira grande parte do campo revolucionário), diz «Bonhomme, ne sens-tu pas/ Qu'il est temps que tu te réveilles...» É tempo de acordar. Uma canção satírica muito popular, Le Sire de Fisch-Ton-Kan, de Paul Burani e Antonin Louis, goza com a guerra e com os prussianos como pode. E multiplicam-se as canções anti-Bismarck. Mas já é demasiado tarde. Ao mesmo tempo surgem canções sobre os quatro meses do cerco de Paris, e aí já não pode haver ironia. Os tempos são de falta de pão, de agonia, de frio, de miséria. Le chant des soldats faz ainda um apelo aos soldados para «apoiar o povo e os seus direitos». Graças à mobilização popular, com as mulheres na dianteira, alguns soldados recusarão, de facto, disparar sobre a multidão que defende os canhões estacionados em Montmartre. Muitos juntar-se-ão ao movimento revolucionário que ali explodiu em 18 de Março de 1871. Que canção terá sido cantada nessa ocasião? La Carmagnole, de novo, agora na sua versão La Communarde ?
Um outro escritor, Eugène Chatelain, condenado ao exílio depois da derrota da Comuna, escreverá mais tarde canções revolucionárias como uma que grita «Vive la Commune, Enfants!», e onde se acredita ainda num mundo onde o povo terá pão, trabalho e bom vinho. José Mário Branco, em 1971, no exílio, em França, participou num espectáculo de comemoração dos 100 anos da Comuna. Várias belas canções faziam parte dessa iniciativa do Groupe Organon, como Le proscrit de 1871, texto de Chatelain e música de José Mário Branco. Talvez aquela em que mais se sente a cumplicidade de um exilado político (como era José Mário Branco), com outro exilado, um século antes.
Durante a Comuna, apesar de todas as tarefas e todos os perigos, continuará a cantar-se: há relatos de concertos de beneficência e de solidariedade, prossegue a edição de canções patrióticas e revolucionárias. Multiplicam-se os encontros em clubes, em igrejas usadas à noite para fins revolucionários, em cafés. Louise Michel, professora e muito activa durante a Comuna, escreve o texto de La danse des bombes em Abril, cantando a esperança e «os belos horizontes do presente».
Sejamos tudo
Mas a Comuna é derrotada, 72 dias depois. E é nos anos seguintes que as canções se vão multiplicar. Simplesmente denunciando os crimes do governo de Thiers, como La terreur blanche, de Pottier. Ou a Semana Sangrenta, de Jean-Baptiste Clément, que descreve a bárbara repressão da revolução, mas deixa uma ponta solta para o futuro: «Sim, mas... A terra treme/ Os dias maus vão acabar/ O contra-ataque não se teme/ Se toda a gente se juntar». Poucos dias depois do fim da semana sangrenta, em que milhares de communards foram barbaramente assassinados, o mesmo poeta escreveu aquela que se tornará a canção-hino de todas as facções revolucionárias (anarquistas, comunistas, socialistas) e que teve mil versões e traduções: a Internacional. Também ela, no fim de contas, é filha da Comuna de Paris. E faz um apelo internacionalista a mudar o mundo de base, sem nostalgias, nem ilusões, nem deuses, nem chefes. «Não somos nada, sejamos tudo».
E uma outra canção ainda, mais uma do communard Eugène Pottier: Elle n'est pas morte. O título diz tudo: «ela não morreu». A Comuna, apesar de exterminada, vive. Vive como ideal, sim, mas vive também como possibilidade prática. Ela é símbolo da solidariedade em marcha, de uma organização social construída noutras bases, entre iguais. De um possível que ficou por cumprir, mas que ecoa, com as suas canções, em todas as lutas de emancipatórias da humanidade desde então. Nas lutas das mulheres, nos combates de todos os trabalhadores, nas experiências de auto-gestão democrática, na ruptura com o capitalismo, com os impérios e a sua barbárie militarista. Uma possibilidade nova.
No século XX, muitas homenagens à Comuna se fizeram. Novas canções nasceram. Em 1951, por exemplo, nos oitenta anos da Comuna, o compositor Joseph Kosma fez novas canções para o espectáculo À l'assaut du ciel. Jean Ferrat musicou La Commune em 1971, nos seus 100 anos. Velhas canções reapareceram ou foram reinventadas, como a italiana Dimmi bel Giovane, de Francesco Bertelli (original de 1871, precisamente), canção que tem o curioso subtítulo de «Exame de admissão de um voluntário à Comuna de Paris». Nesse «exame», pergunta-se: «Diz-me, qual é a tua pátria?» A resposta? La mia patria è il mondo!
Muitos mitos sobre esta revolução se criaram e outros tantos se desfizeram. Realizaram-se belos filmes, entre Nova Babilónia de Kozintsev e Trauberg (1929) e La Commune de Peter Watkins (2000). Muitos novos factos e documentos se descobriram também. Uma coisa é certa: a Comuna de Paris continuará a cantar. Como exemplo, ouça-se um programa recentíssimo comemorando os 150 anos da Comuna, cheio de canções, que o coro da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio fez para a Achada na Rádio.
Epílogo - Um hino que nunca o quis ser
Le temps des cerises (O tempo das cerejas) tornou-se a canção-símbolo da Comuna de Paris. E contudo, ela é anterior aos acontecimentos revolucionários de 1871, tendo sido editada em 1868. A letra é de Jean-Baptiste Clément, um homem que só a partir daí escreverá canções de temáticas políticas. Jornalista, ele juntar-se-á à oposição republicana e à militância socialista, ainda antes de passar pela experiência inolvidável de participar na Comuna de Paris. Mas, quando foi escrita, Le temps des cerises era apenas uma inocente canção de amor sentimental, a que Antoine Renard juntou uma música leve, cativante e dançável. Que ela se tenha tornado a canção-hino da Comuna, para além dos equívocos ou dos mitos românticos (Clément escrevendo os últimos versos numa barricada...), tem, apesar de tudo, uma razão de ser que vem do seu texto: é que ela fala de uma aspiração a um futuro («quando estivermos no tempo das cerejas») e, ao mesmo tempo, nostalgicamente, de um passado («desse tempo, guardo no coração uma ferida aberta»). E defende que, se temos medo de sofrer, então será melhor evitar as grandes paixões. É natural que se tenha visto nesta letra, a posteriori, a entrega corajosa ao amor e a desenfreada paixão revolucionária de 1871, lado a lado. Um bom exemplo de como as canções têm improváveis destinos e mudam facilmente de sentido. Como elas se transformam com a transformação do mundo. E se tornam hinos que nunca o quiseram ser. Mas, neste caso, ainda bem, porque assim amor e revolução andarão para sempre de mãos dadas.
Pedro Rodrigues é músico e musicólogo.