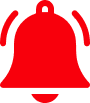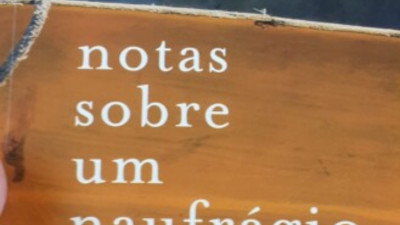Abril fez 40 anos. Eram seis da tarde quando o cinema Trindade, no Porto, abriu de novo as portas para receber o Desobedoc - Mostra de Cinema Insubmisso. Encerrado há 14 anos, a afluência às salas do Trindade, este fim de semana, atravessou gerações. Eram novos e velhos. Chegavam aos molhos. E as salas lotaram. A proposta foi dada pelo Partido da Esquerda Europeia em colaboração com o Bloco de Esquerda: três dias de cinema insubmisso. 25 documentários. Entrada livre. A população respondeu assertivamente. Encontrámo-nos com Jorge Campos, documentarista e programador cultural, que nos falou de documentarismo e da necessidade de uma intervenção pública no âmbito de uma política cultural. Para Jorge Campos, “A política que perde a referência cultural deixa de o ser”.
Há espaço, na cidade do Porto, para uma sétima arte alternativa?
Os cinemas históricos do Porto foram desaparecendo à medida que foram proliferando os duplex nos centros comerciais. E, quando isso acontece, as pessoas são levadas ao centro comercial já que supostamente terão ali uma diversidade, não apenas de iniciativas, como também de filmes. Claro que essa é uma diversidade muito mais aparente do que real, porque os filmes têm quase todos eles a mesma origem - correspondem ao fluxo da produção americana mais recente que ocupa a quase totalidade das salas. Como tal, o espaço para outros tipos de cinema está muito rarefeito. Até o cinema europeu é marginal e enfrenta enormes dificuldades no que respeita à distribuição. Entre os cinemas que desapareceram, o caso mais gritante de rutura com a história da cidade é evidentemente o Batalha. O edifício, magnífico, continua lá, mas não se vislumbra uma solução; e é pena.
Curiosamente o Batalha é dos mesmos donos do Trindade.
Sim. Mas é bom dizer que esta família também é uma família que tem tradições cinematográficas muito fortes no Porto. O Neves Real era um cinéfilo, um apaixonado pelo cinema.
Acha que esse legado cinéfilo foi passado aos que hoje têm a responsabilidade da gestão destas salas?
Não sei, de todo, o que se passa. Sei que espaços destes dificilmente têm rentabilidade imediata. E sei que a relação das pessoas com o cinema também mudou, mudou muito. Não foi apenas essa proliferação dos duplex que mudou a relação das pessoas com o cinema, foi também toda a panóplia de tecnologia que surgiu – como o digital, os DVD, etc.
Faz sentido pensar numa intervenção estatal que preserve esses cinemas alternativos?
Preservar esses espaços só me parece possível através de uma intervenção pública, no âmbito de uma política cultural, seja ela de índole municipal ou nacional.
Preservar esses espaços só me parece possível através de uma intervenção pública, no âmbito de uma política cultural, seja ela de índole municipal ou nacional. E penso que isso faz todo o sentido, porque uma cidade de dimensão média, como o Porto, que queira levar a cabo uma política cultural ousada e cosmopolita, tem de ter necessariamente salas de cinema de arte e ensaio, abertas às cinematografias mais alternativas no quadro do cinema mundo. Isso parece-me de elementar compreensão.
Para tanto, e tendo em vista a criação de públicos, poder-se-ia, por exemplo, estabelecer protocolos com estabelecimentos de ensino superior com cursos de cinema, vídeo e artes digitais, por forma a que, pelo menos uma parte da programação, pudesse fazer parte dos respetivos planos curriculares. Aliás, já há escolas a fazer esse trabalho, como a ESMAE, que adotaram modelos inspirados na Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura. É claro que a reabilitação desses espaços não poderia ser levada a cabo num registo de nostalgia. Teria obviamente de ser ajustada aos novos tempos. Mas repito: uma política cultural, quer de âmbito local, quer de âmbito nacional, justificaria o apoio a salas onde coubesse o cinema mundo e os seus autores.
E parece que não é por falta de público. O Desobedoc mostrou isso. As salas estiveram sempre cheias.
A política que perde a referência cultural deixa de o ser (...) Não há ação política fora desse âmbito.
No Porto há, aliás, um fenómeno curioso. Para além da excelente programação do António Costa, no Teatro do Campo Alegre, e do Passos Manuel, onde o Becas continua a mostrar bons filmes, há espaços culturais alternativos, alguns dos quais também passam cinema. No caso do Desobedoc, acho interessante que tenha sido uma iniciativa centrada no cinema documental, e acho interessante a temática – que teve a ver com a urgência da desobediência face à situação em que nos encontramos e aos ditames da troika. E creio que a afluência também teve muito a ver com a consciência deste público mais restrito, digamos assim, que não encontra nos multiplex, de forma regular, filmes que de alguma modo respondam às questões que se colocam hoje.
Acho que a ideia desse ciclo [Desobedoc] foi muito feliz a vários títulos. Creio que é muito interessante que haja um partido político que trás cá [ao Porto] uma iniciativa deste tipo, uma vez que não é possível fazer política sem referências culturais. A política que perde a referência cultural deixa de o ser. Poderá ser tecnocracia, poderá ser um simulacro de qualquer coisa, mas a política exige cultura. Não há ação política fora desse âmbito.
Como é que vê, se é que vê, o documentário enquanto instrumento de memória?
o documentário é o álbum de família dos povos.
Há um cineasta chileno (suponho que ainda está radicado em Paris) que saiu do Chile após o golpe de estado do Pinochet – o Patrício Guzmán - que diz que o documentário é o álbum de família dos povos. E eu creio que esta expressão resume muito bem a importância do documentário.
Se hoje quisermos fazer um levantamento do século XX, por exemplo, podemos fazê-lo em função da história e da teoria do documentário, como, aliás, do cinema, que é uma arte profundamente inserida no real. Alguns documentários tornam-se, inclusivamente, património nacional ou património universal.
Quer dar alguns exemplos?
Se nós pensarmos num documentário como o “Douro, Faina Fluvial”, do Manoel de Oliveira, que é um documentário que hoje faz parte do imaginário da cidade do Porto, encontramos esse caráter monumental.
Se nós pensarmos num documentário como o “Nuit et Brouillard”, do Alain Resnais, sobre o holocausto, é óbvio que é uma obra património da humanidade.
Se quisermos saber o que foi o colaboracionismo do regime de Vichy, vamos ver o “Le Chagrin et la Pitié”, de Marcel Ophüls, e deparamo-nos com uma reflexão profunda sobre os mecanismos desse mesmo colaboracionismo.
Se quisermos ver filmes que, apesar do intuito propagandístico não deixam de ser obras universais, vamos ao cinema soviético dos anos 20 e ficamos com inúmeras pistas para refletir, não apenas sobre esse tempo, como também sobre o próprio cinema.
O documentário funciona enquanto instrumento de mobilização ou transformação social?
Depende do documentário e depende de variadíssimas circunstâncias.
Há pouco eu dizia que o documentário pode ser encarado como o álbum de família dos povos, e isto remete-nos para a questão da memória. Depois, além da memória, poder-se-ão colocar questões de eficácia. Isso é mais complicado. Por exemplo, os filmes soviéticos dos anos 20 - os Eisenstein, Dovjenko, Vertov - ao contrário do que se supõe, foram relativamente pouco vistos por quem era suposto vê-los. E quando foram vistos, muitas vezes não foram compreendidos.
Porquê?
Entre outras razões porque a sua linguagem experimental era praticamente inacessível a um público operário e camponês, semianalfabeto, quando não totalmente analfabeto.
A mensagem não estava coadunada com o perfil do público a que se destinava?
Vejamos um exemplo: os filmes do Vertov. Ele entendia que podia rejeitar o argumento, a literatura e o teatro, justamente para evitar uma abordagem romanesca do real e concentrar-se no quotidiano. E defendia o cinema enquanto linguagem universal de modo a chegar a toda a gente e assim impulsionar a Revolução. Só que o seu “cine-olho”, tão estimulante e inovador para o cinema, dificilmente poderia ser compreendido…
Eisenstein tinha outra perceção; defendia o “cine-punho”.
Eisenstein era menos conceptual?
Não, não. Extremamente conceptual. O que tinha era uma mundividência e um profundo conhecimento do homem, nomeadamente daquilo que eram, por exemplo, as ideias de Pavlov a propósito dos reflexos condicionados.
Eisenstein era um agitador de emoções. A construção dos seus filmes vai no sentido de criar momentos em que há como que uma subjugação psicológica do espectador que o leva a aceitar a mensagem revolucionária; o apelo à ação, o apelo ao homem novo.
É muito difícil falar no documentário em abstrato. E quando me perguntam “mas ele é eficaz?”, seria muito arriscado dar uma resposta imediata. Mas há filmes que são muito eficazes e nós sabemos isso.
Conhecer muito bem as características do indivíduo para que se está a falar é meio caminho andado para obter sucesso ?
Esse é mais um problema da comunicação e menos um problema do cinema. E depende do que quisermos fazer. Por exemplo: no Desobedoc passou o ‘blockbuster’ “Roger & Me”, do Michael Moore, que utiliza códigos que os americanos, de um modo geral, não têm dificuldade em descodificar. Está lá tudo o que a tradição cultural americana do ‘show biz’ consagrou. O público, sabendo ao que vai, tem uma maior facilidade de aceitação. Sabe que vai ver a América vista de um ângulo crítico e satírico.
Se pensarmos nas teorias dos efeitos limitados, como a two-step flow ou a multi-step flow, percebemos que a eficácia depende sempre de reforços àquilo que previamente pensamos... estamos a falar disso?
Pensar que as pessoas vêem um filme e que em função disso mudam de opinião é extremamente arriscado. Não é que não haja casos desses.
Sim, obviamente. Pensar que as pessoas vêem um filme e que em função disso mudam de opinião é extremamente arriscado. Não é que não haja casos desses. Por exemplo: “The Thin Blue Line”, do Errol Morris, um documentário sobre um condenado à morte numa cadeia americana. O Errol Morris, que já tinha sido detetive privado, fez uma investigação sobre o caso e, no filme, cria um argumentário onde suscita a dúvida se a sentença era justa ou não. E o facto é que os tribunais recuperaram o caso e o homem saiu em liberdade. Portanto, há casos em que os filmes suscitam efeitos mais imediatos.
A maior produção de documentários em tempos de agitação social está ligado a uma busca maior de transmitir algo?
Toda a história do documentário está ligada àquilo que é o momento que passa. Nós encontramos uma afirmação muito consistente no documentário dos anos 20, por exemplo, na União Soviética; encontramos nos anos 30, sobretudo em Inglaterra; mas também, curiosamente, nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos isso foi uma consequência, por um lado, da Grande Depressão, e por outro, da necessidade que o governo de Roosevelt sentiu de fomentar uma série de programas - fundamentalmente na fotografia, mas também no âmbito do cinema documental - no sentido de dar a conhecer o que se passava, uma vez que Hollywood nessa altura tratou foi de investir em entretenimento.
Em Inglaterra também teve a ver com a crise, mas também com uma situação que, primeiro, coincidia com a desagregação do Império Britânico, e depois, com os sinais que iam sendo dados de tempos conturbados na Europa. Portanto, todo o movimento documentarista britânico tem um pouco a ver com isso. E quer num caso, quer no outro, são filmes que são feitos para elencar problemas e suscitar questões, na convicção de que o cinema tenha essa capacidade de revelação, que permita esclarecer as situações e, a partir dessa circunstância, partir para as soluções. Isto está muito ligado à história do documentário.
Falou nos programas do governo de Roosevelt. O Estado aparece aqui como entidade financiadora?
Nestes dois casos o movimento documentarista é parcialmente financiado pelo Estado.
Nos Estados Unidos isto é quase uma heresia. Aliás, Roosevelt chegou a intervir pessoalmente para que um ou outro filme de Pare Lorentz pudesse passar.
(...) quando Pare Lorentz mostrou um filme chamado “The River”, houve um magnata que disse: “Isto se tivesse sido feito por nós era uma obra prima, mas tendo sido financiado pelo Estado é pura propaganda”.
Em Hollywood, inclusivamente quando Pare Lorentz mostrou um filme chamado “The River”, houve um magnata que disse: “Isto se tivesse sido feito por nós era uma obra prima, mas tendo sido financiado pelo Estado é pura propaganda”.
Mas para concluir a questão anterior: sim, podemos dizer que em momentos de crise, ou quando as situações se agudizam, o documentário adquire uma nova pujança. E adquire por uma razão adicional aos aspetos concretos da crise: é que as representações das crises, nomeadamente as representações jornalísticas, nem sempre dão conta do que efetivamente se passa.
Ou seja, as pessoas têm noção que os media ‘mainstream’ nem sempre refletem os problemas das pessoas, ou que o fazem de uma forma enviesada; por isso vão muitas vezes procurar respostas noutros registos, nomeadamente ao documentário.
Mas convenhamos que o documentário acaba por ser “consumido” por uma certa “elite”, não pelas massas.
Bem… Se eu nasço a ver séries televisivas, a ir a “supermercados” ver filmes, se vejo apenas aquilo que me dão a ver, provavelmente acabo por ficar condicionado por essa circunstância. Mas se alguém me dá a possibilidade de ter um espaço onde possa ver documentários e se os documentários não forem aborrecidos e me falarem de coisas que me dizem respeito, provavelmente ganho o gosto em vê-los.
Nós estamos numa civilização da imagem que foi instrumentalizada muito mais no sentido do fascínio e da hipnose do que de um convite à reflexão. Ora, por definição, o documentário convida-nos a refletir. E o que é facto é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas com um objeto simbólico que é transgressor em relação àquilo que é a norma e, portanto, gera muitas vezes efeitos de rejeição.
É uma questão de educação?
Há muitas coisas que sempre foram feitas, continuam a ser feitas e ainda bem que são feitas. A questão de financiar cinema documental é importante; a questão dos festivais também. A notoriedade que alguns obtêm é importante. Tudo isso é importante.
Eu não sou favorável a nenhum tipo de dirigismo. O que sou favorável é a uma educação para os media. Porque a situação é esta: a imagem que fazemos do mundo é a imagem que nos é devolvida através dos media.
Uma construção social da realidade…
A violência simbólica exercida pelos meios de comunicação social é uma arma terrível que favorece o conformismo, a resignação e a inação, porque é orientada nesse sentido.
Sim, uma construção da realidade! A realidade em si não existe. Existe o real e existe uma metamorfose do real que se chama realidade e que é operada em função de uma linguagem. Se eu não dominar a linguagem, não percebo que estou perante uma construção. E uma construção é sempre uma máscara. Não posso fugir a isso.
A violência simbólica exercida pelos meios de comunicação social é uma arma terrível que favorece o conformismo, a resignação e a inação, porque é orientada nesse sentido.
Mas, em todo o caso, e respondendo à questão, eu não seria favorável a uma política dirigista para fazer valer a força do documentário. Mas, no plano da cidadania, havia toda a conveniência e necessidade de haver uma educação para os media na escola. Penso que este é o primeiro ponto, e acho que é fundamental.
A outra questão é que as pessoas percebam que há uma educação para os media a partir do momento em que se quer formar cidadãos. Porque, para formar consumidores, não é necessário; o que os media fazem (e sobretudo a televisão) é uma pedagogia dos consumos. E disso, já temos que baste.
O que sentiu ao estar sentado numa sala do Trindade 14 anos depois de ter fechado ao público?
O filme começa quando acaba. E isso só acontece numa sala de cinema. Quando acabam, se os filmes nos deixam a refletir, então os filmes começaram.
Bem… Muito bem! Porque a experiência do cinema é uma experiência que me leva a imaginar ou a re-imaginar o mundo. E quando se vai ao cinema, vai-se nesse sentido, não no sentido de estar sentado numa cadeira num processo de evasão em que acaba o filme e não aconteceu nada. Não. O filme começa quando acaba. E isso só acontece numa sala de cinema. Quando acabam, se os filmes nos deixam a refletir, então os filmes começaram.