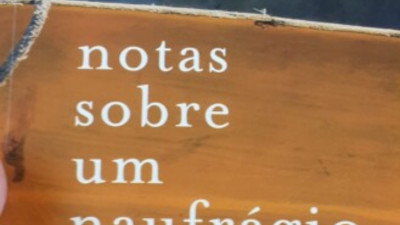Em junho de 2017, tive o privilégio de me encontrar com a Helena em sua casa por forma a recolher o seu testemunho para o projeto “Mulheres de Abril”. A nossa conversa, de mais de três horas - com várias pausas para ver fotografias e folhear alguns livros - foi gravada e posteriormente transcrita e enviada para a Helena. Combinámos voltar a encontrar-nos para recolher mais informações. Com uma vida de ativismo e militância antifascista, de luta pela libertação das ex-colónias portuguesas tão intensa, a Helena achou que ainda tinha ficado muito por dizer. E ficou. Infelizmente, fomos adiando a concretização deste projeto.
Num dos últimos emails que trocámos, a Helena assinalava que “o tempo passa depressa” e reforçava a importância da publicação de testemunhos como o seu, “numa área em que escasseiam os registos do passado recente”.
Tendo perfeita noção de que ![]() a Helena teria muito mais para nos transmitir sobre este período da sua/nossa história, aqui fica, também em jeito de homenagem, o seu testemunho.
a Helena teria muito mais para nos transmitir sobre este período da sua/nossa história, aqui fica, também em jeito de homenagem, o seu testemunho.
Coordenação de Mariana Carneiro.
A Helena Lopes da Silva nasceu em Cabo Verde, onde estudou até ao sétimo ano. Quando acabou o liceu, veio para Portugal, para poder frequentar a universidade. Nascida no seio de uma família da pequena/média burguesia cabo-verdiana, era filha de um escritor, tendo tido sempre acesso a vários livros, que sempre foram uma das suas paixões.
O despertar
Desde muito cedo, a Helena foi-se apercebendo da pobreza e das desigualdades que grassavam entre a população cabo-verdiana.
A leitura clandestina do livro Famintos, do escritor cabo-verdiano Luís Romano, quando tinha cerca de 12 anos, foi importante para esse despertar: “Ainda não compreendia muito bem, mas comecei a interrogar-me porque é que existiam pessoas a morrer nas ruas sem serem ajudadas. Aquilo mexeu comigo”.
Vários outros episódios marcaram a Helena, como o dia em que, com 13 anos, foi confrontada com a existência de presos políticos.
“Morava por trás do Palácio da Justiça, e apercebi-me de um burburinho. Saímos à rua e percebemos que estava ali a polícia, bem como presos políticos cabo-verdianos, mas não percebíamos a razão daquilo tudo, porque não tínhamos conhecimento da luta de libertação. Começámos a questionarmo-nos sobre o porquê de aquelas pessoas serem presas, e fomos ouvindo que eram contra o governo português, e que queriam melhores condições para Cabo Verde e para os cabo-verdianos”.
Com 15 anos, surgem as primeiras formas de resistência: “Por essa altura, íamos todos à Praça - como chamávamos ao jardim central - das 18h às 20h. Quando a Rádio Clube de Cabo Verde, que tocava para a Praça, passava o hino nacional, todos tinham de parar e de se levantar: crianças, adultos, idosos... Comecei a pensar que não havia razão nenhuma para me levantar. Hoje, quando faço a retrospetiva, apercebo-me de que ninguém me disse para fazer aquilo, ninguém me explicou que era uma forma de resistência – é assim que o vejo hoje, como uma forma de resistência. À época, já existia a PIDE e aquele medo de ser vista, de ser apontada, mas eu não me levantava, e tentava fazer com que os meus colegas também não se levantassem”.
Há outro episódio que marcou particularmente a Helena: “Um dia fui ao Hospital da Praia ao dentista – o Dr. Santa Rita – e, enquanto estava à espera de ser atendida, fui abordada por um preso político que lá estava, com um polícia a vigiá-lo. Ele deve ter achado que eu tinha piada e começou a falar comigo. Estabelecemos ali uma cumplicidade muito gira. O polícia também foi muito cúmplice, deixando-nos falar livremente e aceitando ser o nosso intermediário na posterior troca de cartas e livros. Cheguei a enviar para o preso político o disco com a canção San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair). Como a capa estava toda estragada, fez-me uma capa nova, com desenhos feitos por ele, cheia de flores. Mais tarde vim a saber que era o Luandino Vieira, o escritor, da Casa dos Estudantes do Império”.
O primeiro contacto com o “Continente”
Com 15 ou 16 anos, a Helena veio a Portugal numa viagem de barco promovida pela Mocidade Portuguesa, oferecida aos melhores alunos, na sua grande maioria rapazes. Foi o seu primeiro contacto com o “Continente”, como era chamado na altura.
Na viagem de regresso, conheceu um comissário de bordo que, mais tarde, veio a saber ser um militante do Partido Comunista Português na clandestinidade.
“Despertou-me para algumas questões de discriminação, de exploração... Não falava bem das colónias, mas de qualquer coisa que não estaria bem cá, e que também não estaria bem em Cabo Verde, Angola, Moçambique... E começou a surgir em mim algum interesse para a questão da luta de libertação, da qual eu não tinha qualquer conhecimento. Fez-me chegar vários livros, entre os quais O Rio, de João Cabral de Melo e Neto. Este foi mais um dos episódios que contribuiu para que despertasse em mim alguma consciência política, sem que tivesse noção de que isso estava a acontecer. Esse comissário esteve em Cabo Verde, até conheceu o meu pai. Trocávamos cartas. Numa das cartas que me escreveu, falava-me do Ballet Rose[i], dos ministros e do seu envolvimento com as jovens raparigas. Dizia-me que o poder em Portugal estava podre”.
O início da formação política
Com dezoito anos, a Helena foi estudar para o Porto, por opção do pai, com uma bolsa de estudo.
Aproximando-se, numa primeira fase, da JUC – Juventude Universitária Católica, “um grupo bastante avançado politicamente”, a Helena teve posteriormente contacto, no café que frequentava, o Piolho, com um grupo trotskista, ao qual pertencia, por exemplo, Manuel Resende. Foi neste grupo que iniciou a sua formação política.
“Reuníamo-nos à noite, escondidos, a discutir e a ler até às tantas O Capital, Rosa Luxemburgo,… Como estudava anatomia, estudava O Capital. Na altura não percebia a maior parte das coisas, como é óbvio”.
Tendo a irmã a estudar em Coimbra, a Helena deslocava-se a essa cidade todos os fins-de-semana. Foi lá que foi abordada para assistir a reuniões onde se discutia a questão da luta pela libertação e se promovia a formação política dos estudantes das colónias.
“Falava-se de relações de produção, classes sociais, proletariado... As reuniões eram bastante camufladas. Normalmente, fazia-se um jantar com baile – picapada – e antes tinha lugar a reunião a que só alguns assistiam. Era uma forma de promover esses encontros sem dar muito nas vistas. Nesse grupo, comecei a ter formação e informação sobre a luta de libertação nacional, mais concretamente do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde), através, nomeadamente, da leitura dos textos de Amílcar Cabral”.
Em Coimbra, a Helena apanhou a crise de 69, que foi “muito influenciada pelo Maio de 68”.
A dupla clandestinidade
Ao fim de dois anos no Porto, e após ganhar a sua autonomia, a Helena pediu a sua transferência para Lisboa, onde se encontrava a maioria dos seus colegas cabo-verdianos. Assim que chegou à capital, foi imediatamente integrada na organização clandestina do PAIGC em Portugal.
“A estrutura era composta por um comité, um subcomité, e depois pelas células, que eram responsáveis pelos chamados grupos de base. Comecei por pertencer a uma célula. Fazíamos reuniões clandestinas, recebíamos informação de como é que se desenvolvia a luta no Maquis da Guiné, e recebíamos determinações sobre o que é que deveríamos fazer através da estrutura que havia cá. Era responsável por uns grupos de base de estudantes e de trabalhadores, este últimos sobretudo na Lisnave, onde tínhamos um grupo fortíssimo, com quem me reunia e tentava consciencializar para a necessidade da luta de libertação. Posteriormente, ascendi ao subcomité”.
A par da sua militância na organização clandestina do PAIGC, a Helena integrava o grupo de trotskistas ligados à IV Internacional que, em Lisboa, era constituída essencialmente por estudantes de Medicina.
“Éramos muito poucos, na altura, e não éramos muito bem vistos, já que o Trotski era identificado como o ‘traidor’. Mas éramos muito persistentes e muito entusiastas. Estávamos em todas as lutas e trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo. Éramos, inclusive, bons alunos. Acabámos, assim, por impor o nosso reconhecimento no meio dos nossos colegas. Na Faculdade de Medicina de Lisboa havia uma estrutura trotskista organizada: o Alfredo Frade, o José Manuel Boavida,… Entretanto, chegou o João Cabral Fernandes, que era um grande dirigente estudantil de Coimbra. Passei a fazer parte da organização trotskista portuguesa, que veio a dar origem à Liga Comunista Internacionalista (LCI). Fazíamos reuniões clandestinas, em casa do Manuel Cavaco, na Avenida de Roma, por exemplo, distribuíamos propaganda entre estudantes e operários... Vinham ainda elementos da IV Internacional fazer reuniões connosco, como o Michael Löwy. Os encontros demoravam um dia inteiro”.
A formação e a atividade política da Helena foram sempre, sobretudo, nessas duas vertentes: uma na LCI, ligada à IV Internacional, e outra ligada aos movimentos de libertação, nomeadamente no PAIGC, que lutava pela independência de Cabo Verde e Guiné.
“Na altura, éramos acérrimos defensores da unidade Guiné e Cabo Verde, como Amílcar Cabral preconizava. Em Lisboa, éramos três os elementos que, integrando o PAIGC, também fazíamos parte da LCI. Se fossemos presos, era um problema, porque não era só a LCI que estava em causa, mas também a estrutura clandestina do PAIGC. Mas, à época, havia coragem para fazer tudo e, felizmente, não aconteceu nada”.
Era, portanto, uma situação de dupla clandestinidade, sendo que o PAIGC não podia saber das suas ligações ao grupo trotskista.
“Mesmo depois do 25 de Abril, nunca podia dizer que pertencia à LCI. Essa dupla participação deu-me uma bagagem muito importante, quer teórica, sobretudo na LCI, como também de consciência da necessidade da luta de libertação, da independência, e de os movimentos de libertação serem os únicos representantes dos povos das colónias”.
As lutas tinham inúmeras frentes que, na Faculdade de Medicina, passavam também por contestar o sistema de ensino e a forma de avaliação, debater a questão da guerra colonial, e fazer a ligação entre a luta dos estudantes e a luta dos trabalhadores.
“Participava nas manifestações anticoloniais, fugia da polícia de choque. Criámos na Faculdade a Comissão de Luta contra a Repressão. Fazíamos textos e panfletos que distribuíamos, tentávamos influenciar os estudantes, participávamos nas Reuniões Gerais de Alunos (RGA's)”.
As atividades eram incessantes e, por vezes, o cansaço era difícil de gerir.
“Mas, naquela altura, com o entusiasmo, fazia-se tudo. Lembro-me de um episódio em que ia apanhar o autocarro na Praça de Espanha para ir para uma reunião na margem sul. Dei o dinheiro para pagar o bilhete e consegui adormecer instantaneamente, ainda antes de receber o troco. Dormia muito pouco porque não havia tempo para dormir. Mas era sempre tudo feito com entusiasmo. Recordo-me também de, numa daquelas manifestações de apoio ao Bobby Sands, termos partido a montra de um banco. Tivemos de correr para fugir da polícia. Estava exausta. Fomos até ao Largo do Rato para tentar apanhar um transporte até à Faculdade de Medicina. Naquela altura, a polícia não nos perseguia para dentro do Hospital. Havia um respeito enorme pelos hospitais. Mais tarde, esse deixou de ser um limite. Quando consegui entrar no Hospital, fartei-me de vomitar de tanto stress, de tanta tensão”.
Por essa altura, e muito devido à sua participação na Comissão de Luta contra a Repressão, a Helena foi proibida de entrar na Cantina Velha da Universidade devido ao seu “comportamento político desadequado”.
Antes do 25 de Abril, a Helena também teve algum contacto com os Católicos Progressistas.
“Na altura, nem sabia qual o seu nome e nem fazia ideia do porquê de [o Luís Moita] me ter contactado. Ele levou-me uns papéis, creio que da Comissão Anticolonial, para eu saber da existência da sua luta. Passei assim a receber as informações que ele me trazia e que eu utilizava na minha ação dentro do PAIGC. Mais tarde, o Luís explicou-me que foi ter comigo porque um dos elementos cabo-verdianos que pertenciam à organização do PAIGC, e que era membro do Comité, uma estrutura mais elevada do que a minha, disse-lhe que eu era uma pessoa de confiança, com quem ele podia fazer esse contacto”.
As publicações que o Luís Moita lhe entregava chegaram a render-lhe um susto de que nunca se esqueceu.
“Eu vivia com a minha irmã que tinha estudado em Coimbra, e que estava então em Lisboa a trabalhar no Ministério do Ultramar e já tinha uma criança, e com outra irmã que estava cá a estudar. No meu quarto tinha uma fotografia do Che Guevara colada na parede. Um certo dia, de manhã cedo, a minha irmã entrou pelo meu quarto adentro muito assustada para me avisar que estava lá a PIDE. Os dois pides entraram no quarto da minha irmã. Fui para a despensa – chamávamos-lhe a tulha – que estava sempre cheia de coisas, era uma grande confusão, e atirei o material do Luís Moita e um livro para a prateleira de cima. Depois, fui para casa de banho com a minha irmã mais nova e rasgámos o restante material, que deitámos para a sanita. Tirei ainda a foto do Che Guevara da parede do meu quarto, que escondi debaixo do colchão, e deitei-me. Felizmente, a PIDE foi lá só fisgada na minha irmã, que não tinha atividade política nenhuma. Provavelmente, foi denunciada por uma colega do Ministério do Ultramar que não gostava dela, e que disse que ela tinha ligações políticas. A PIDE só embirrou com uma agenda que a minha irmã tinha, onde constava um mapa de África. Queriam saber o que é que aquele mapa queria dizer. Nem cheguei a vê-los, não quiseram saber de mim. A minha irmã foi levada para a António Maria Cardoso, para interrogatório, e, até ao 25 de Abril, passou a estar obrigada a ir lá apresentar-se todas as semanas”.
Estas situações eram vividas com imenso receio, devido à possibilidade de, mediante tortura, poderem comprometer a organização.
“Eu tinha muito medo de ser levada. Pensamos que resistimos e que não vamos falar, também quero crer que sim, mas nunca sabemos. E alguém que falasse punha em causa toda a organização”.
A Casa dos Estudantes das Colónias (CEC)
Assim que se deu o 25 de Abril, começaram a reivindicar a independência imediata para as colónias e a exigir “nem mais um soldado para as colónias”.
A 3 de maio, a Helena e os outros dois elementos que também pertenciam à LCI e ao PAIGC reuniram o maior número possível de estudantes africanos na sala de alunos do Hospital de Santa Maria, onde se faziam as RGA's e as reuniões da Comissão de Luta contra a Repressão. A Helena ficou responsável por defender nesse encontro a ocupação da Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos (PEU).
“A PEU era uma estrutura do Regime que tinha como função arregimentar os estudantes africanos contra a independência, contra os movimentos de libertação. Era uma estrutura fascizante. Os estudantes eram muitas vezes aliciados para denunciarem outros estudantes que não seguiam a linha de apoio ao regime fascista e colonial. Tinham recompensas: viagens para os países de origem, livros, bilhetes para concertos, entre outros. Com o apoio dos estudantes portugueses, nomeadamente os trotskistas que estavam na Faculdade, descemos em manifestação a então 28 de Maio, agora Avenida das Forças armadas, e fomos ocupar a PEU. Após a ocupação, transformámo-la na Casa dos Estudantes das Colónias (CEC)”.
A Helena foi eleita presidente da CEC, que foi reconhecida pelo Movimento das Forças Armadas (MFA). A direção era composta por mais dois elementos de Angola, um de Moçambique e um de São Tomé.
“A nossa atividade foi importantíssima. Fazíamos inúmeras reuniões onde discutíamos tudo e mais alguma coisa. Eu tinha muito apoio da LCI. A maior parte daqueles estudantes nunca tinha participado numa RGA, não sabia o que era uma reunião, uma proposta, um ponto de ordem... Foi um tempo de aprendizagem incrível. Nós, como direção, passámos a produzir textos de apoio formativo para os estudantes, sobretudo dando informações sobre a luta de libertação. A partir da CEC, os estudantes participaram, organizados, em todas as manifestações que existiam, durante as quais empunhavam cartazes onde se lia: ‘PAIGC, MPLA, MLSTP, FRELIMO... únicos representantes do povo das colónias’, ‘Independência já!’ e ‘Nem mais um soldado para as colónias’”.
Os estudantes da CEC participaram e intervieram também no primeiro grande comício na Voz do Operário.
“Defendemos que os únicos representantes dos povos das colónias eram os movimentos de libertação e que as negociações deviam iniciar-se imediatamente, bem como que devia parar o envio de soldados para as colónias. Quando, logo após o 25 de Abril, esteve cá o Secretário-Geral da ONU, os estudantes da CEC juntaram-se aos milhares de manifestantes que exigiram a independência das colónias, e escreveram uma carta com as suas reivindicações”.
A CEC foi um importante polo de formação política: “Mobilizámos muita gente. Muitos dos que passaram pela CEC, que anteriormente não tinham qualquer formação política, depois passaram a integrar os governos dos seus países”.
Esse facto tornou a CEC muito atrativa para todos os partidos da extrema-esquerda, contudo, e mediante a ligação direta à LCI, “os trotskistas tinham uma influência muito grande” na organização. Ernest Mandel chegou a dar lá uma conferência.
A CEC também chegou a ser alvo de ameaças com telefonemas do género: “Pretos, vamos matar-vos!”. Por este motivo, a direção da Casa recebeu um pedido da LUAR para uma reunião, durante a qual Palma Inácio propôs enviar elementos armados para a sede da CEC, por forma a garantir a sua segurança. A oferta foi, no entanto, recusada.
A partir da CEC foram formadas as outras casas: de Angola, Moçambique, bem como o Grupo da Ação Democrática de Cabo-Verde e Guiné (GADCG).
“A Casa de Cabo Verde era uma estrutura ligada ao Regime, onde se faziam sobretudo festas da burguesia cabo-verdiana. Logo a seguir ao 25 de Abril, soubemos que eles iam fazer um baile, numa altura em que ainda não havia independência. Fomos lá e acabámos com a festa: ‘Agora não é altura de baile, é altura de luta!’. Ocupámos a Casa, transformando-a no Grupo da Ação Democrática de Cabo-Verde e Guiné (GADCG). A partir do GADCG, trabalhávamos nos bairros onde viviam os cabo-verdianos: fazíamos alfabetização, tentávamos que os cabo-verdianos participassem nos comissões de moradores para melhorar o seu bairro, discutíamos a questão da luta de independência e do reconhecimento do PAIGC. O GADGC teve um papel fundamental no processo de afirmação do PAIGC como representante do povo de Cabo Verde e Guiné”.
A Helena considerava que “o grupo dos cabo-verdianos trotskistas, que não estavam inquinados pelo estalinismo, teve uma importância fundamental para que hoje tenhamos em Cabo Verde um regime democrático muito mais avançado do que nas outras ex-colónias”.
“Já na altura, púnhamos a questão do day after. Não queríamos só a independência. Queríamos que a independência também se desenvolvesse contra a exploração, no sentido de uma sociedade mais justa, democrática, participativa. Já tínhamos essa ideia mesmo antes do 25 de Abril. E isso teve a ver com a formação política internacionalista que tínhamos. Éramos contra a revolução por etapas, queríamos a revolução permanente. Tudo isso teve muita influência na nossa maneira de ver o mundo e influenciou muito a construção da nova sociedade cabo-verdiana. Penso que não é por acaso que Cabo Verde tem hoje um regime democrático. Mitigado, sem dúvida, que é preciso aprofundar mais, mas que está mais avançado do que qualquer uma das outras ex-colónias”.
Segundo a Helena, “em Cabo Verde e nas ex-colónias, a formação, ou melhor, a deformação estalinista de muitos daqueles dirigentes que se formaram na União Soviética, traduz-se numa forma limitada de ver o mundo, o horizonte”.
“É como se tivessem umas palas. Não conseguem ser democráticos. Impera o ‘se não és por nós és contra nós’. Não sabem ouvir os outros, permitir a expressão de outras sensibilidades. O que aconteceu em Cabo Verde, por exemplo, com o partido único, a ‘força, luz e guia do povo’, em que todos os que pensavam de outra maneira eram considerados contrarrevolucionários, foi fruto disso. Nessa altura, os trotskistas foram considerados como contra revolucionários e foram expulsos. Por isso é que não voltei para Cabo Verde quando acabei o curso. Se fosse, provavelmente seria presa. Continuei o trabalho cá”.
Com a independência das colónias, a CEC deixou de ter razão de existir.
“Com a extinção da CEC, passámos a trabalhar essencialmente a partir do GADCG, fazendo trabalho nos bairros. Depois, o GADCG evoluiu e veio dar origem à Associação Cabo-Verdiana, porque houve a separação entre Cabo Verde e Guiné”.
A mobilização estudantil e dos trabalhadores e o direito ao aborto
Logo após o 25 de Abril, a LCI desenvolveu atividades de mobilização quer estudantil quer dos trabalhadores, porque “era importante fazer a ligação entre a luta estudantil e a luta operária, fazer essa ponte”.
As lutas feministas, como a reivindicação do direito à interrupção voluntária da gravidez eram também uma prioridade.
“Tínhamos também uma organização autónoma de mulheres, tínhamos o grupo ‘Ser mulher’, participámos na rede europeia de mulheres. Cheguei a ir lá fora representar a organização portuguesa. Juntamente com as mulheres da UDP e do MDM, fizemos várias reuniões sobre a questão dos direitos das mulheres que, na altura, era fundamentalmente sobre o reconhecimento do direito à interrupção voluntária da gravidez. Enquanto LCI, participámos em todos os movimentos que houve pelo reconhecimento desse direito. Fizemos parte do Movimento Sim à despenalização do Aborto”.
Aceder aqui à nota biográfica publicada pelo Esquerda.net: Helena Lopes da Silva (1949-2018)
* Helena Lopes da Silva nasceu a 30 de Janeiro de 1949 em Cabo Verde. Estudou no Liceu Domingos Ramos (então Liceu Adriano Moreira) na ilha de Santiago, em Cabo Verde.
Assim que terminou o liceu, veio para Portugal, para poder frequentar a universidade. Estudou dois anos na Faculdade de Medicina do Porto. Findo este período, pediu transferência para a Faculdade de Medicina de Lisboa.
Helena Lopes da Silva integrou a organização clandestina do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) em Portugal e a organização trotskista portuguesa que veio a dar origem à Liga Comunista Internacionalista (LCI). Foi uma fervorosa resistente antifascista e lutadora pela libertação das ex-colónias portuguesas.
Após o 25 de Abril, presidiu à direção da Casa dos Estudantes das Colónias (CEC).
Participou em todas as atividades de mobilização quer estudantil quer dos trabalhadores no âmbito da LCI, acreditando que era importante fazer a ligação entre a luta estudantil e a luta operária.
A LCI deu origem ao PSR e Helena Lopes da Silva prosseguiu o seu percurso dirigente da luta feminista em Portugal, na criação da Campanha Nacional pelo Aborto e Contraceção (CNAC) ou da organização autónoma de mulheres, o grupo “Ser mulher”.
Juntamente com as mulheres da UDP e do MDM, fez várias reuniões sobre a questão dos direitos das mulheres que, na altura, era fundamentalmente sobre o reconhecimento do direito à interrupção voluntária da gravidez.
Fez parte dos Movimentos pelo Sim à despenalização do Aborto nos referendos, tendo sido uma das impulsionadoras do movimento Médicos pela Escolha.
Em 1994, liderou a candidatura do PSR às eleições europeias. Helena Lopes da Silva tornou-se a primeira cabeça de lista negra nas eleições em Portugal, numa campanha que trouxe visibilidade às questões do racismo e da xenofobia em Portugal e na Europa.
Em 1999, foi fundadora do Bloco de Esquerda.
Em 2015, foi condecorada pelo Presidente da República de Cabo Verde com o Segundo Grau da Ordem Amílcar Cabral. Fazia parte do Conselho de Estado do país.
No que respeita à sua atividade académica e profissional, Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1975 e especializou-se em Cirurgia Geral. Foi Assistente Graduada de Cirurgia no Hospital Santa Maria (1998-2016), membro do Colégio da Especialidade de Cirurgia da Ordem dos Médicos e chefiou a Equipa de Consulta Externa de Cirurgia 1 durante 20 anos. Foi Assistente Convidada de Cirurgia da FML (1981-2016) e Mestre em Gestão da Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública/UNL.
[i]Escândalo que abalou a alta sociedade portuguesa durante o Estado Novo.